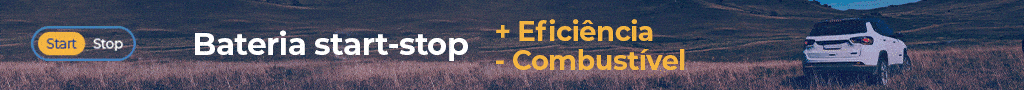Dirceu Marroquim, Historiador e curador da exposição "1654 – 370 Anos da Rendição dos Holandeses em Pernambuco: Reflexões Históricas e Contemporâneas" explica a mostra que está no Museu do Estado de Pernambuco que propõe um olhar a partir da atualidade para esse período da história que está no imaginário cotidiano do pernambucano.
Quem for à exposição 1654 – 370 Anos da Rendição dos Holandeses em Pernambuco: Reflexões Históricas e Contemporâneas – que está no Museu do Estado de Pernambuco até o dia 6 de outubro – não deve esperar um simples mergulho no período das lutas contra os batavos. Mas uma interessante experiência sobre como esse passado permeia o cotidiano dos pernambucanos. Também conduz o visitante a refletir sobre diversos aspectos que levaram ao apagamento do protagonismo de negros e indígenas na memória sobre essa época, e sobre questões que povoam o imaginário da terra dos altos coqueiros:
A Pátria nasceu após a Restauração? Se os holandeses permanecessem, Pernambuco estaria melhor? A reflexão é feita a partir da contraposição de um discurso hegemônico representado, em obras seculares, como as que mostram homens (em sua maioria brancos) nas lutas contra os invasores, e artistas contemporâneos como Nathê Ferreira, que traz um grande painel destacando uma mulher nega que mata um leão por dia, que tem o provocativo título: Qual é a sua batalha?
Cláudia Santos conversou com o historiador Dirceu Marroquim, curador da exposição juntamente com Maria Eduarda Marques e Helena Severo. Ele explica como a mostra foi montada e resgata informações pouco conhecidas como culto a Iansã no final do Século 18 que era uma celebração feita por escravizados no Monte Guararapes e que se perpetuou em territórios da população afrodescendente.
Como é que surgiu a ideia dessa exposição?
Ela surge da tentativa de olhar para uma data: os 370 anos da rendição dos holandeses. É uma história que permeia o imaginário da nossa população. Não é estranho você ver turistas na rua do Bom Jesus, por exemplo, e as pessoas dizerem para eles: essa é uma rua que é do tempo dos holandeses. Você encontra muitos vestígios dessa história na nossa vida cotidiana. Só que a gente não olha muito sobre os desdobramentos dessa memória ou de como ela foi construída.
A exposição nasce com a tentativa de problematizar como foram construídos os discursos nacionalistas ou que se pretenderam tentar dar unidade a essa memória. O nosso ponto de partida é entender que essa é uma problemática presente e não sobre o passado. Apesar de o título da exposição ser 1654, ela não é uma exposição sobre o Século 17, mas sobre 2024. A nossa linha do tempo é de frente para trás, começa em 2024.
A proposta dessa exposição foi tentar lançar muito mais perguntas do que oferecer respostas prontas, para que as pessoas saiam da exposição se perguntando: que história é essa? Lançando assim a boa dúvida. Procurando olhar para essa história colocando em dúvida essas batalhas, essa memória católica, que cai num certo discurso hegemônico. A pergunta que permeia a exposição – Qual é a sua batalha? – serve um pouco para ilustrar o intuito dela.
Como é a exposição?
Ela está dividida em quatro módulos. O primeiro deles trata sobre Presença, é basicamente uma tentativa de olhar para esses 24 anos de ocupação, entre 1630 e 1654. Só que a gente faz isso lançando mão de objetos e de reproduções que não remontem ao Século 17, mas que sejam olhares contemporâneos sobre esse passado. Na entrada da exposição tem uma reprodução feita por Marcelo Andrade, estudante de arquitetura da Unicap, que criou uma página chamada Mauritsstad Digital que foi fruto do trabalho de conclusão de curso dele. Ele reproduziu em 3D a Cidade Maurícia. Então, conseguimos dar uma dimensão material a essa cidade que a gente vê numa representação tão chapada.
Em seguida, temos um setor de cartografia no qual vemos a cidade evoluindo, o tecido urbano que vai crescendo e ao mesmo tempo vemos as permanências, como a Praça da Independência, a Rua de São José, cujos traçados permanecem. Estamos falando dessas idas e vindas.
Nesse módulo, inclusive, tem um quadro que é do parceiro Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, que retrata Maurício de Nassau e um homem escravizado atrás dele. Ao mesmo tempo, em frente a esse quadro, temos a obra do artista plástico contemporâneo James Duarte, cujo nome é Cimento Nassau, mas ele mostra um Nassau meio zumbi, com a mão putrefata. Trata-se de uma denúncia para mostrar que esse homem, a quem se atribui como ilustrado, quase um renascentista, representa a economia do açúcar que utilizava mão de obra escravizada.
O segundo módulo é chamado Restauração, em que abordamos as guerras pela recuperação de Pernambuco que começam em 1645 e terminam em 1654. Só que a forma de abordar também tem as suas idas e vindas temporárias. De um lado, trazemos representações do Século 18 das batalhas dos Guararapes e das Tabocas. Temos uma representação feita por Victor Meirelles, que ficou pronta em 1879 e foi encomenda imperial, de certo modo uma ode ao gentil da terra, ou seja, à população local. Quem está à frente é o brasileiro Vidal de Negreiros.
Por outro lado, temos a batalha da Nathê, artista plástica urbana extraordinária, que fez um painel intitulado: Qual é Sua Batalha? Ela morou nos Montes Guararapes, tem experiência grande no território. Na sua obra, a representação de uma batalha cheia de homens lutando desaparece. Ela mostra uma mulher negra lutando contra um leão. Então, seja no Século 17, seja hoje ou daqui a 100 anos, essa é uma imagem que constrói sentido e que aproxima o passado do presente.
No centro desse módulo da Restauração há quatro totens que são os restauradores pernambucanos, a tetralogia: Henrique Dias, Felipe Camarão, André Vidal Negreiros e João Fernandes Vieira. Mas no centro, a gente procurou trazer uma espécie de memória de soldados. Conseguimos rastrear nas crônicas de guerra o nome dos terços que eram as tropas desses restauradores. Esses nomes desaparecem da paisagem, exceto no bairro de Areias. Lá existe a praça Heróis da Restauração e no entorno dela estão vários nomes de soldados que não são aqueles que a gente usualmente associa a essa memória. O que é ótimo porque um dia estive na exposição e vi as crianças interagindo e dizendo “olha meu nome é João e está escrito aqui”. Eles se reconhecendo como participantes da história porque são nomes de homens comuns. Tentamos ao máximo possível humanizar esse sujeito para fazer com que se crie empatia.
O terceiro módulo chama-se Memória, onde mostramos que esse passado teve múltiplas camadas de construção e de silenciamento também. Mostramos que houve um esforço de tentativa católica para marcar o território por parte da Coroa Portuguesa com construção de igrejas, com a retirada de corpos dos protestantes holandeses que foram enterrados em igrejas católicas. Também falamos de outra história que é silenciada.
E onde se enquadra a Festa da Pitomba?
A Festa da Pitomba é marcadamente popular, é uma celebração à vitória dos lusos brasileiros. Logo depois da vitória, Barreto de Menezes (governador e capitão-general de Pernambuco) sugeriu uma grande festividade e que agora tem mais de 300 anos. Quando eu falo que essa história é vestida de cotidiano, é porque hoje a gente não associa a Festa da Pitomba como uma referência a esse passado.
Foi publicado no Jornal Pequeno no Recife, um artigo narrando a subida para chegar até o Monte de Guararapes, dizendo assim “a gente subia ao som dos tambores”, “é a festividade das pessoas negras saudando a vitória na batalha”. Isso na década de 1930. Então, é algo que está tão na superfície, tão presente, mas a pergunta é “por que que isso não faz parte de nenhuma mostra anterior?”.
Encontramos, também, o registro por exemplo do culto a Iansã no final do Século 18 que era uma celebração feita por escravizados. A documentação fala de uma celebração do povo negro em homenagem à vitória na batalha. Estamos falando de uma memória insurgente, de um lampejo documental que aparece mas que isso não se torna parte da narrativa hegemônica.
Nas décadas de 1930 e 1940, Mãe Biu de Xambá subiu o Monte dos Guararapes para, além de fazer uma oferenda a Iansã, pegar o “capim da batalha”, que é a batalha onde os corpos dos heróis da pátria tombaram e esse capim seria milagroso e é usado como um chá. É algo muito curioso, muito presente e marcado por muito sincretismo e completamente desconhecido.
E qual é o quarto módulo?
É o Futuro. O Brasil holandês deixou muitas perguntas. Embora tenha sido curto o período de ocupação, a origem desse questionamento é uma história que percorre a longa duração. Habita os imaginários sociais do presente e se projeta para o futuro. Entre as histórias e as estórias, a dominação holandesa no Nordeste brasileiro constituiu-se como um episódio ímpar no contexto da América portuguesa, que hoje continua a inspirar. Nos sopros agudos dos trompetes e trombones do Grêmio Musical Henrique Dias, na recuperação do painel cerâmico de Francisco Brennand alusivo à Batalha dos Guararapes, nos traços precisos da artista Nathê Ferreira, segue viva a saga da gente de Pernambuco.
Como as assombrações holandesas anotadas por Gilberto Freyre, das “luzinhas misteriosas nos morros do Arraial”, a história desse outro Brasil permanece incandescente.
Muitos pernambucanos veem o período holandês como positivo e defendem que se os invasores permanecessem o Estado estaria melhor. Como você analisa esse imaginário?
É curioso porque se você olhar a memória dessa presença num longo prazo, vai perceber que a memória lusa brasileira é predominante, é a forma que a Coroa Portuguesa encontrou de marcar a construção dessa história. Mas a Avenida Maurício Nassau é dos anos 2000, a Ponte Maurício Nassau recebe esse nome somente em 1917, antes foi designada como Ponte Sete de Setembro.
A grande questão é que é mais recente essa atribuição de positividade à presença de Maurício Nassau em território brasileiro, quase como apartado das experiências anteriores e depois de Nassau, porque ele era um grande negociador, na verdade. João Fernandes Vieira, um dos restauradores, fez fortuna durante esse período porque se sentava à mesa com Nassau para negociar. Então, há uma certa romantização desse passado e o que faz a gente perguntar dos “e se”. Os educadores aqui do museu sempre dizem assim “professor o que a gente diz quando os visitantes perguntam “se Pernambuco continuasse com a ocupação?”.
E sua resposta?
A minha resposta é sempre assim, primeiro não existe pergunta besta, existe interlocutor que não sabe reconhecer a preciosidade das perguntas. Se você olhar, por exemplo, o caso do Suriname que foi colônia holandesa até 1975, não foi a experiência mais bem sucedida de colonização, e foi tão violenta quanto o nosso contexto aqui.
Então, eu sempre digo, o governo Maurício de Nassau, efetivamente tinha uma certa tranquilidade, tanto é que Nassau foi embora e no ano seguinte as guerras afloraram e começou a guerra pela restauração. Talvez porque Nassau tivesse um pouco mais de habilidade em repartilhar os interesses com quem era para partilhar esses interesses.
Com a elite açucareira.
Sim e isso é curioso porque talvez a resposta para essa pergunta, quase como um exercício socrático, seja responder com outra pergunta: você acha que podemos dizer que um processo de colonização é melhor ou pior? Olhe os outros países, olhe outras experiências. Em resumo, acho que a experiência da ocupação dos holandeses no Brasil gerou, além de tudo, uma profissionalização deles em relação ao tráfico de pessoas escravizadas. Serviu quase como uma experiência para o que depois eles acabaram consolidando.
Como assim?
Eles trabalhavam com o sistema escravagista, mas não tinham a expertise que os portugueses tinham. Foi nesse período que eles tentaram ocupar territórios em África para otimizar o tráfico, desde saber quantos escravizados cabiam dentro de uma embarcação. Isso é muito violento, otimizar um negócio para construir uma logística. Isso não pode ser naturalizado.
Outra memória que está muito no imaginário é a ideia de que com a restauração, criou-se o sentimento de ser brasileiro, de uma nação brasileira. A nação nasceu em Jaboatão mesmo?
Na década de 1970, Médici veio para a inauguração do Parque dos Guararapes. A exposição tem um vídeo dessa visita. Eles falam que o sangue dos heróis ajudou a fundar a nação, Henrique Dias, um homem negro, Felipe Camarão, um homem indígena, André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira, foram heróis que lutaram. Quando você encontra essa narrativa de que a pátria nasceu aqui, falamos de uma tentativa de uma harmonia social. Uma certa democracia racial. Eu sou muito crítico ao termo. Mas é como se houvesse uma harmonia entre a população, e que essas matrizes étnicas que fundaram o Brasil se juntaram para lutar contra o invasor. É a velha história de vamos nos juntar para enfrentar um inimigo comum. O grande barato dessa exposição é criar sentido para reinterpretarmos essa memória, é de que essa pátria é cheia de tensões, de tentativas de homogeneização construída a posteriori.
Se você for olhar no próprio século 17, vai encontrar Henrique Dias, o restaurador, um homem negro escrevendo uma carta para o rei dizendo assim, “eu sou tratado de maneira muito injuriosa e diferente dos outros restauradores. Eu não sou um igual.” Se você olhar uma carta de Dom Diogo Camarão – o velho Felipe Camarão tinha morrido na batalha e o sobrinho dele assumiu as tropas indígenas – tem o mesmo tom. Os argumentos utilizados na carta mostram que existe uma tensão social ali, existe a construção de distinção.
Se você olhar nos quadros, as tropas indígenas e as negras estão sempre inferiorizadas em termos da representação das batalhas. Se você olhar por exemplo a representação de Victor Meirelles que é do Século 19, vai observar que Henrique Dias está lá atrás, quase não dá para ver, Camarão aparece um pouco mais na frente, do outro lado, mas muito mais como uma alegoria da presença indígena no Século 19.
Basicamente você tem uma reprodução de hierarquias sociais que são postas e que são reforçadas, seja nos Séculos 18 e 19 e que esse discurso de que a pátria nasceu aqui, a meu ver, serve muito mais para reforçar a tentativa de construção de identidade nacional, que silencia as tensões sociais e que, se nós silenciamos, não vamos olhar para elas e lançar perguntas sobre como encará-las, sobre como criar políticas públicas eficientes que reduzam as desigualdades e que criem melhores condições de vida.