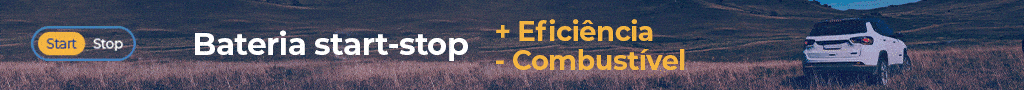Ronaldo Correia de Brito recebeu os jornalistas Cláudia Santos e Rafael Dantas com uma crise de blefarite (inflamação nas pálpebras que provoca lacrimejamento). Médico de profissão, além de escritor, ele intuía que “seu pranto” devia estar relacionado à maneira pouco acolhedora como os profissionais têm tratados os pacientes. Também lamentou que smartphones estejam levando as pessoas a lerem menos. Mas contou entusiasmado sobre os novos rumos da literatura com o advento das edições cartoneras, que fazem produção independente de livros de forma artesanal. E comemorou o sucesso de mais de três décadas do espetáculo Baile do Menino Deus, que é tradicionalmente encenado no Recife em dezembro, e em comunidades, escolas e teatros em todo o País. Escritor premiado, com obras traduzidas para vários idiomas, Ronaldo conversou com a equipe de reportagem da Algomais no seu amplo apartamento, decorado com obras de arte e com uma varanda que lembra a das casas de fazenda do sertão cearense onde nasceu.
Você nasceu no Sertão cearense e quando veio para o Recife?
Nasci na cidade de Sapuí, meu pai era criador de gado e plantador de algodão. Quando eu tinha 5 anos, ele percebeu que eu tinha muito interesse por leitura e decidiu que o campo não tinha mais nada a oferecer para a nossa geração e mudou-se para o Crato. Aos 17 anos, em 1969, venho para o Recife para fazer o vestibular para medicina. Ou seja, ano que vem vai fazer 50 anos que eu moro aqui. Já até recebi título de cidadão recifense. Cheguei aqui um ano depois da decretação do AI-5. Havia um clima de muita tristeza e repressão na cidade. Eu era um estudante bastante modesto. Passei no vestibular na Federal em 1970. A Faculdade de Medicina era extremamente repressiva, a Comissão da Verdade, inclusive, apurou que duas universidades brasileiras tinham aparelhos repressivos montados, uma delas era a UFPE. No meu romance Estive lá fora faço essa acusação sem provas.
Como essa repressão se expressava na prática?
Por exemplo, nosso professor de anatomia interrompia a aula e dizia: “se vocês não se comportarem vou chamar o 4º Exército e vão todos em cana”. Ele se chamava Bianor da Hora e era irmão de Abelardo da Hora. Imagine! Eu morava na Casa do Estudante Universitário que tinha 196 alunos homens. A gente sabia que na casa havia alunos infiltrados para delatar. Em 1969 foi quando mataram o padre Henrique e balearam o estudante Cândido Pinto, que era irmão de um estudante de engenharia, que depois ficou muito ligado a mim, foi meu vizinho. Acompanhei Cândido Pinto até ele morrer em consequência da paraplegia que o vitimou. Mas havia um lugar onde se respirava: o Departamento de Extensão Cultural. Um lugar maravilhoso, coordenado e dirigido por Ariano Suassuna, frequentado por Gilvan Samico, Francisco e Débora Brennand, Roberto da Cunha Melo, poetas, escritores, músicos. Fora isso, éramos estudantes ousados, vivíamos tempo da contracultura e não era fácil usar sandália de pneu, cabelo encaracolado grande, camisa de listra de malha com o umbigo de fora e uma calça tomara que caia mostrando os pentelhos (risos). Era um tanto exótico, mas eu era um bom estudante.
Por que você optou por medicina?
O que é que se ia fazer para se viver? Não se podia viver de poesia, nem de música naquele tempo. Ia-se viver do direito, da engenharia ou da medicina. Eu gostava de medicina. Acho que foi uma das melhores escolhas que fiz na minha vida. Não seria o escritor que sou, não teria chegado à literatura que cheguei se não fosse médico e acho que igualmente não seria o médico que fui se não fosse um intelectual, um artista, uma pessoa com alma e vida de artista.
Qual sua especialidade?
Sou clínico, sou de uma geração que tive a sorte de ter sido formado por pessoas que tinha o pensamento moderno de formar médico clínicos, os chamados médicos de medicina interna, preocupados em olhar e ouvir o doente, em tocá-lo. Eu digo que me torno médico quando passo a trabalhar com essas pessoas que são o famosos Dr. Chicão, e Vítor Spinelli e a frequentar os hospitais) Agamenon (Magalhães), Barão de Lucenan e Getúlio Vargas, de cuja residência fui chefe alguns anos, e sobretudo quando conheci minha mulher, Belina Brandão, com quem estou há 43 anos, e que era uma médica extraordinária, era minha preceptora no internato do Barão de Lucena. Ela é quem me encaminha mesmo para a medicina, que mostra o que é medicina.
Onde é que a medicina se encontra com a literatura?
Elas se encontram a todo instante. Sempre fui preceptor de médicos residentes e sofro muito em perceber o quanto a medicina se afastou do sentido grego de arte da cura. A medicina se faz principalmente olhando, ouvindo, tocando o paciente e perguntando: por que você sofre? O que eu posso fazer para aliviar o seu sofrimento? São perguntas muito simples que foram abandonadas e são os princípios da medicina hipocrática. Digo que a minha blefarite (inflamação das bordas das pálpebras que provoca lacrimejamento), meu pranto, vem de muito tempo com a própria medicina. Há uma grande tradição de escritores médicos, um dos que me marcaram profundamente foi Anton Tchecov. Ele costumava dizer que a medicina era a sua esposa e a literatura e o teatro eram sua amante. Guimarães Rosa, que também era médico, disse que três coisas o fizeram ser um escritor: a convivência com o povo, a vivência da Segunda Grande Guerra e a medicina. O meu último livro Dora sem véu há um personagem que é paciente e se queixa do médico que não o escuta. Certa vez eu estava no hospital e ouço um canto, que é arrebatador, vem das entranhas da terra, é bonito, é antiquíssimo. Que canto é esse? E eu saio procurando a voz, e chego numa enfermaria que tem duas mulheres, uma é uma negra, de mais de 80 anos, a outra, de uns 60, com uma bíblia. A negra é quem cantava. Eu digo: que bonito seu canto. Eu sei que canto é esse, sei o que ele significa. O que que a senhora está cantando? Ela diz: “um hino evangélico”. Toco nela e digo: “Dona Teresa (nome fictício), um hino evangélico? Pra cima de mim? O que a senhora está cantando? Aí, ela aponta pra vizinha do lado, que é evangélica: “Um hino evangélico, doutor”. Chego junto dela e digo: olhe, sou de dentro das casas de santo, só nunca raspei cabeça, não guardo quarto, mas isso não é hino evangélico. Aí ela diz mais alto: ‘doutor, doutor, é um hino evangélico!”. Dona Teresa teve uma fratura de quadril, passou do tempo cirúrgico, infectou, fez escaras (feridas) e está condenada à morte. Ela sente que vai morrer e aí pergunto novamente: pra quem a senhora está cantando. Ela me puxa pra perto e diz sussurrando: “pra preta velha, Nanã Buruku”. Esse orixá equivale na mitologia grega a Hermes Psicopompo, que é quem faz a passagem dos mortos, quem leva as almas. Era 26 de julho, dia de Santana. Chego em casa e vou pesquisar e constato: Santana (no sincretismo) é Nanã Buruku. Quando retorno à enfermaria, ela já está morta. Há mil histórias dessas todos os dias, é só escutar.
Muitos de seus livros são ambientados no sertão, mas com uma conotação inserida na globalização. É o regional falando sobre o universal?
Já me preocupei muito com essa marca de regional. Esse termo foi muito cunhado por Gilberto Freyre, que fundou o romance regionalista e universalista. Eu não gostos dessas palavras. Acho que todo escritor possui uma pátria e aqueles que eu mais estimo estão bem situados em um lugar, como os russos Dostoievsky, Tchekov, Tolstoi, franceses como Guy de Maupassant, Balzac. Machado é um regionalista carioca. Se você pegar, por exemplo, o livro Galileia, os personagens estão em trânsito. Um vem da Noruega, outro é um jovem músico que viveu parte do tempo na França e tem uma vivência caótica em Nova Iorque e o outro vem de um doutorado em Londres. Todos se encontram numa fazenda do avô no Sertão. São personagens que trazem questões do mundo, do homem. Por exemplo, quando Adonias mata Ismael, ele começa a pensar se a violência é inerente daquele lugar. Mas percebe que é inerente ao homem ser violento. Mesmo as grandes civilizações europeias, como a Alemanha e a Áustria, quando produziam a melhor filosofia de todos os tempos, a mais alta poesia, a melhor música, sofre uma convulsão e o homem retona a sua condição mais primitiva e entra numa loucura como foi guerra e o ódio ao povo judeu. Uma vez perguntaram ao escritor judeu polonês alemão chamado Isaac Bashevis Singer porque só ele falava de bêbados, prostitutas, ladrões e fanáticos judeus. Ele disse: “meu amigo eu sou judeu. Você quer que eu fale de prostitutas espanholas, ladrões ingleses?” Da mesma forma eu vou falar de quem eu conheço e linkar isso com o mundo.
Como surgiu a ideia do espetáculo Baile do Menino Deus e como você sente sua obra se transformar numa tradição natalina?
O baile é um milagre, tem 35 anos! Em 1981, quando começamos a trabalhar no projeto, a ideia era a seguinte: nossos filhos estão nascendo e crescendo e vamos mostrar para eles esse natal de Disney dos shoppings? Isso não tinha nada a ver com o nosso natal ibérico, brasileiro, muito menos com o nordestino. Se você perguntar para qualquer criança qual o sentindo do Natal ela não saberia que foi o nascimento do Menino Deus. Eu e Assis Lima, despretensiosamente pegamos uns rascunhos e decidimos montar uma brincadeira de Natal, com nossas irmãs e filhos. Tínhamos feito uma parceria com o músico (Antônio) Madureira, do Quinteto Armorial, e ele disse que o trabalho poderia resultar em algo muito lindo e sugeriu gravarmos um disco. Ele estava fazendo uma série de LPs para o selo Eldorado sobre cantigas de roda, de minar. Fizemos o disco, o texto e as pessoas da Companhia Praxi Dramática e Zé Mário (Austregésilo) sugeriram que montássemos o espetáculo e que eu dirigisse. Da noite para o dia o Baile foi se multiplicando e ganhando formas e impressões. Uma única edição do Baile, editado pela Objetiva, foi de meio milhão de exemplares, destinado ao Programa Nacional Biblioteca na Escola. Posso dizer, sem arrogância ou falsa modéstia, que o baile é o espetáculo mais encenado do Brasil. Não como o do Marco Zero, aquela coisa grandiosa e cara, mas de outras mil formas. Em São Paulo, fui numa comunidade, que ocupa vários bairros periféricos, onde fizeram uma montagem com muitas pessoas. Foi emocionante. Há encenações em ONGs, em escolas públicas e privadas. É um espetáculo de domínio público com autores vivos. Pena que isso não renda os direitos autorais, senão estaríamos ricos. Mas estamos ricos de felicidade.
Como você vê o futuro da literatura no país, principalmente com o contexto das novas tecnologias. Elas ajudam ou atrapalham?
É uma pergunta muito difícil. Vivemos uma crise de leitura. Por exemplo, eu cheguei ontem de uma viagem e observei, no saguão do hotel, que ninguém folheava os jornais. Quando eu viajo de avião, cada vez vejo menos pessoas lendo; as revistas de bordo quase não são folheadas. As pessoas estão sempre com os celulares. Mas a literatura não está em crise. Escritores estão escrevendo cada vez mais e publicando. Veja quem ganhou o prêmio Jabuti, um cearense que escreveu poemas, que foi algo épico e teve influências de João Cabral e Ferreira Goulart, mas que, sobretudo, teve a mística popular da cidade dele. É uma edição cartonera, na qual as capas foram feitas por ele, que acabou conquistando um dos prêmios mais importantes. Entre os ganhadores só havia dois autores de grandes editores, todo o resto eram pequenas editoras. Estamos caminhando para algo novo na literatura.
Qual você esse novo tempo político que o Brasil vive para o incentivo à cultura?
Nós tínhamos a melhor política do mundo de incentivo à tradução. Eu escutei isso em Frankfurt, no São do Livro de Paris, na Feira de Leipzig, de Genebra, de Bogotá, de Buenos Aires. O Brasil era o país homenageado de todas as feiras internacionais, estava no topo, pois havia políticas para a cultura e para o livro. O Brasil tinha bons ministros da cultura de alta importância, Gilberto Gil, Juca Ferreira e Marta Suplicy. Era o maior comprador de livros. Acabei de dizer que um livro meu vendeu para o governo federal 500 mil exemplares. Outros autores venderam milhões. Havia de fato uma política para o livro e para colocá-lo nas escolas e nas mãos dos estudantes. Eu lhe confesso que tenho muita preocupação em relação a esse governo. Nós já perdemos muito com Temer e não sei qual é o nosso futuro cultural. Temeria muito que se passasse por uma revolução cultural como a da China, onde se queimaram livros. Já houve ameaça de que todos as obras que tratam a ditadura militar como golpe e não como o movimento de 64 serão banidos e proibidos. O meu livro Estile lá Fora será um deles, pois trata disso. E eu não trato como um acontecimento benéfico ou um movimento histórico. Foi um golpe militar mesmo. Se a Lei Rouanet sofrer algum tipo de alteração ou até mesmo sanção vai ser um desastre absoluto para a cultura brasileira. Parte do nosso patrimônio se recupera graças a ela. Um pequeno exemplo, eu fui o curador de uma das maiores discussões sobre Samico na Pinacoteca de São Paulo. Em seguida, eu a fiz também no museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Depois em recebei a proposta de fazer uma exposição temática sobre ex-votos cênicos, que é uma coisa que Pernambuco é riquíssimo. E nós temos no Museu do Estado, os três maiores painéis de ex-votos cênicos, que são as batalhas dos Guararapes. Outro está na igreja da Conceição dos Militares. Eu pedi para levá-los para expor e o Museu do Estado diz: leve, mas, em contrapartida, restaure. Solicitei a produtora, Dona Maristela Requião, que me dê recursos da Lei Rouanet para que eu possa recuperar as três obras. O valor era alto. O dinheiro foi dado e o museu ganhou três painéis recuperados e lindos.