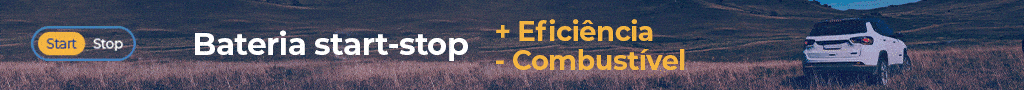*Por Beatriz Braga
Você é homem e acorda num dia comum. Abre o guarda-roupa, põe uma calça justa o suficiente para apertar seus sacos. Hoje não é dia de vestir shorts, pois a sua perna “não está feita”. Vai ao trabalho e sua chefe - que fala de fluxo menstrual sem tabu - ignora seu trabalho e sugere troca de favores sexuais. Você é despedido por ser histérico. Sai em um encontro e a parceira reclama da perna peluda, diz que assim não dá pra ter tesão. Tudo que seu pai fala é sobre como você anda promíscuo e o relógio biológico está alarmando. O mundo está ao contrário e só você reparou. Essa é a trama de Eu não sou um homem fácil, primeira comédia francesa da Netflix.
Damien sofre um acidente e acorda em um mundo onde os corpos masculinos são hipersexualizados. Mulheres são a maioria nos cargos de liderança e exercem profissões antes consideradas dignas de testosterona, como pintoras e açougueiras. Elas assobiam nas ruas, correm de peitos livres e dizem coisas como “do que você está reclamando? de ganhar presentes e mulheres carregando pesos para você?”.
O filme é uma comédia francesa que acerta no tragicômico. O homem recém acordado era um machista mulherengo. Na sociedade às avessas, só aguenta as primeiras horas. No começo, acha graça das mulheres que fixam o olhar na sua bunda. Em pouco tempo, pede pra sair. Logo ele, macho alfa das arábias, torna-se “masculista” (respectivo para feminista no filme) e cheio de “mimimi”. Mulheres, vocês conhecem algum homem que aguentaria o tranco?
O cara que estava noO cara que estava notopo da pirâmide, a pica das galáxias, de uma hora para outra, se encontra nafrente do espelho testando enchimento para bunda (porque rapidamente foiatingido pela pressão de ter um corpo perfeito, durinho e preenchido).
O filme apela para os estereótipos. As mulheres da trama gostam de carros, futebol, arrotam e traem. Os homens são sentimentais e dependentes. Isso, no entanto, não me incomoda, porque também é uma provocação. Afinal, o mundo nos encaixa em fôrmas pré-definidas cada vez que abrimos os olhos.
Dois pontos me chamaram a atenção no roteiro. O primeiro é a linguagem não verbal dos personagens. Falamos não apenas com palavras, mas nossa postura revela muito do que somos e do que achamos que merecemos ser.
No filme, ao inverter os papéis, vemos mulheres mais eretas, de braços abertos, com pernas espaçadas e olhares indicando poder. A linguagem corporal implica que elas são os seres dominantes. Ao passo que vemos homens ineditamente se encolhendo, cruzando as pernas, curvando o tronco, olhando para baixo e ocupando menos lugar no sofá. O
movimento que revela opressão, timidez e insegurança.
As roupas que usamos estimulam essa dicotomia. Enquanto no mundo real os homens sambam em roupas confortáveis o suficiente para fazer o que quiserem com as pernas, mulheres se equilibram em saltos, saias, shorts e sutiens apertados. Além disso, estão sempre na trincheira sobre o que é vulgar, agradável, indecente e adequado. O ato dos homens abrirem as pernas no transporte público recebeu até nome: manspreading. Eles costumeiramente se expandem. As mulheres são ensinadas a se diminuírem.
Na palestra “Sua linguagem corporal pode moldar quem você é”, a psicóloga americana Amy Cuddy fala sobre como a atenção às nossas posturas podem amenizar angústias. Ela cita as mulheres como mais propensas a se encolherem corporalmente, como consequência de uma sensação de inferioridade crônica.
A dica dela é quase simples: moldar a linguagem corporal a nosso favor. Fingir que nos achamos poderosas até de fato convencermos a nós mesmas que somos. Mulheres, atenção: corpos erguidos, nariz pra cima e braços abertos para dizer ao mundo que sabemos do nosso valor.
O outro ponto é uma lembrança. No filme, a sociedade - que tem como verdade inquestionável que Deus é uma mulher - acredita que a natureza concedeu o poder da gravidez ao sexo forte. Mulheres grávidas não são criaturas frágeis destinadas à reclusa de uma alcova, são seres ativos da sociedade.
E não são mesmo? São quem aguenta a barra de gerar um ser e parir entre as suas pernas. Estejamos atentos para desmistificar a visão enraizada; afinal são elas que fazem o mundo girar; carregando no ventre a tarefa árdua de dar luz à Terra.
Não vou mentir. Dá um certo prazer ver um homem branco e chauvinista ser ridicularizado porque suas angústias são consideradas exageros; ou no momento em que ele entende que assédio não é elogio, porque sentiu na pele o incômodo; e quando percebe que o problema do sexismo está em toda parte da sua vida, sem exceção.
Mas a questão não é essa. Não queremos vingança. Não queremos corpos masculinos sendo tratados como
objetos para o prazer feminino. Não queremos Magic Mike. Não temos inveja do papel que o homem ocupa na sociedade, nossa meta não é chegar ali. Queremos, sim, mulheres se sentindo confortáveis ao ocupar espaços. Queremos uma lista inquestionável de quereres, mas isso só será possível no meio termo de uma comunidade que reconhece e recusa suas vantagens imparciais.
O filme fala de privilégios e da emergente necessidade de questionarmos as nossas posições. A lição é muito simples de entender e difícil demais para pôr em prática neste mundo piramidal: empatia. Colocar-se no lugar do outro. É assim que chegaremos ao equilíbrio. Quando eu, branca, imaginar a perspectiva do negro na rua ou no mercado de trabalho. Quando você, homem, imaginar-se acordando em um matriarcado. Calar-se diante do próximo. É pedir muito?
Fica o questionamento: quem estará disposto a abrir mão do privilégio e ser ameaçado pelo desconhecido
quando a contraproposta é “apenas” um mundo mais justo?
Por Beatriz Braga