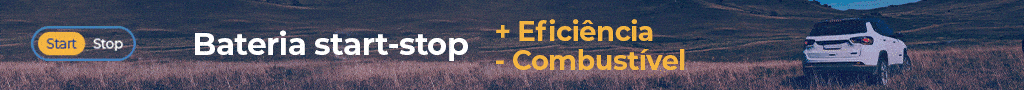*Por Beatriz Braga
“Nós somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar”, dizem alguns dos diversos de cartazes nos protestos feministas ao redor do planeta. O mote é uma lembrança: o movimento não é invenção da atual geração. Eleita a palavra do ano pelo dicionário Merriam-Webster's em 2017, o feminismo vem ganhando cada vez mais holofotes que resultam de um passado de luta e desconstrução.
“A fala das jovens é fruto das mães delas, muitas vezes das avós, que reproduziam outro tipo de discurso nas suas criações. O movimento tem apresentado alcances interessantes, consequências de um processo a longo prazo, que desde as sufragistas (movimento pelo direto de votar do final do século 19 e começo do 20) acontece de forma mais organizada politicamente. Isso vem tomando proporções maiores e articulações políticas mais amplas”, explica Fernanda Capibaribe, professora de comunicação da UFPE e estudiosa da temática de gênero e sexo há 15 anos.
Alguns acontecimentos possibilitaram mais visibilidade ao movimento: a inserção da mulher no mercado de trabalho, o acesso ao sistema educacional, a maior participação política feminina, o ganho a direitos reprodutivos e a crescente tomada de consciência a respeito da sexualidade feminina.
Grande parte das pautas do passado ainda é pertinente na atualidade, uma vez que a equidade de gênero está longe de ser uma realidade. A exemplo da violência contra mulher, do uso do corpo com liberdade, do assédio, da paridade salarial, do racismo e da homofobia.
O movimento feminista é plural. As mulheres sofrem opressão em níveis e configurações distintas referentes à raça, classe, orientação sexual, etnia e capacidades físicas. Apesar de conquistas na luta contra o machismo, muitos avanços permanecem exclusivos à mulher branca, heterossexual e de classe média.
Além disso, o burburinho em torno do tema da vez não acontece em um cenário otimista. Os números da misoginia (a aversão às mulheres) são alarmantes. O Brasil é o quinto do planeta no ranking de feminicídio, o homicídio da mulher devido ao seu sexo (Organização Mundial da Saúde) e a cada 7,2 segundos uma mulher sofre violência física (Relógio da Violência do Instituto Maria da Penha). A cada 11 minutos, um estupro no País é registrado e há, em média, 10 estupros coletivos notificados por dia (Ministério da Saúde, de 2016). Embora alarmantes, os números representam apenas os casos que chegam a ser registrados.
O mundo é um lugar desagradável e inseguro para ser mulher. A denúncia de qualquer violência, assédio ou comportamento machista é a primeira etapa da luta feminista. O caminho para quebrar o silêncio, entretanto, não é fácil, principalmente se o algoz faz parte do convívio da vítima.
Atentas a esse cenário, um grupo de mulheres recifenses criou, em 2016, o aplicativo Mete a Colher. A ferramenta se propôs a desconstruir o lugar-comum brasileiro de que relacionamentos abusivos devem ser ignorados pelas pessoas em seu entorno. Por intermédio do app, mulheres encontram uma rede de apoio.
O aplicativo possui 7.510 usuárias ativas e registra 14.429 downloads na playstore. Já foram criadas mais de 1400 solicitações de ajuda, todas respondidas por usuárias. “A grande maioria dos pedidos entra na categoria de apoio emocional. As mulheres precisam desabafar, ser ouvidas sem julgamentos. Elas contam o problema que estão passando e buscam uma palavra amiga e suporte para enfrentar essa situação”, conta a designer Aline Silveira, co-fundadora da plataforma.
A arte também tem papel importante na luta feminista. “Para além da denúncia, podemos pensar quais narrativas são possíveis, criações e produções poéticas que possam elencar as mulheres sempre como sujeitos da ação e enunciado”, comenta Fernanda Capibaribe. A ideia é que, através das expressões artísticas, a mulher experimente novas possibilidades além da visão de vítima versus o homem agressor.
Dentro da chamada cultura do estupro – lógica que naturaliza a discriminação de sexo e gênero – a mulher é excluída do espaço público. A ordem é vestir-se de maneira discreta, ficar em casa, ter medo e resguardar-se, porque lá fora é perigoso e ali não é o seu lugar. A maior revolução de uma mulher será, pois, ir à rua, participar do movimento, ganhar um lugar que lhe é hostil, mesmo que isso represente uma ameaça ao seu corpo e vida. Afinal, se a mulher se mantém reclusa e distante do que lhe é negado, estará fazendo parte da lógica de séculos de silêncio.
Foi na rua, em pleno Carnaval, que Dandara Pagu, 29 anos, encontrou seu espaço de libertação. Inspirada pela música Vaca Profana, cantada por Gal Costa, a recifense construiu a sua fantasia em 2015: short estampado de vaca, máscara do animal e seios livres cheios de glitter. O resultado foi a abordagem de um policial que quase a levou presa durante a festa.
“Eu me dei conta da falta de domínio da mulher sobre seu corpo. Quando a mídia quer mostrar pra vender algo, pode. Mas se quero mostrar, há sempre uma vulgarização e desrespeito. Aí eu pensei: ano que vem não será só eu, vai sair um bloco todo”. Dito e feito. Desde então a troça cresceu e tem se tornado um espaço de reinvindicação para muitas adeptas.
O corpo da mulher é alvo recorrente. Seja para servir ao desejo do homem e do mercado, seguindo padrões estéticos inatingíveis; seja como símbolo da maternidade, também campo de pressão histórica. “Passei a vida ouvindo minha avó dizer que a vergonha da mulher está no peito”, relembra Dandara, que cita as reações negativas durante o percurso do bloco como “pequenas” diante da emoção das mulheres ao seu lado.
No bloco, foliãs de seios nus circulam protegidas por outras mulheres. Ao longo do caminho, Dandara ouve inúmeros “obrigada”, observa companheiras em transe, chorando e se redescobrindo. Estão, ali, exorcizando os machismos nos quais foram criadas. “Enquanto mulher negra, acredito que a resistência está no sair na rua. Ser feminista é minha postura para o mundo. O maior desafio é seguir sem fraquejar”, conta.
A ideia de transformar o espaço público em um lugar da mulher é assunto frequente da atual geração. O coletivo Deixa Ela em Paz, criado por pernambucanas, utiliza a arte urbana para engrossar esse coro. O projeto começou em 2015 espalhando artes em lambe-lambe com a frase homônima nas ruas do Rio de Janeiro, do Recife e de Caruaru e recebeu uma repercussão inesperada.
A frase se relaciona aos machismos cotidianos com os quais as mulheres são obrigadas a lidar. O mote do grupo é usar mensagens objetivas e ferramentas acessíveis que possam impactar, principalmente, outras mulheres. Em 2016, o grupo conseguiu viabilizar o projeto Circuito de Enfrentamento Urbano - CEU Para Mulheres, por meio de financiamento coletivo, que consiste em oficinas de intervenção urbana em cidades de todas as regiões do País.
O movimento tem virado pauta recorrente gritando alto que protagonismo é fundamental. Para os que ainda acham que o movimento é moda passageira, fica o alerta: é a herança de um movimento que está apenas na quarta geração depois que começou a ser definido como feminismo.
Imaginem, então, o que serão das netas das mulheres das tetas livres do século 21, que têm aprendido a reverberar as pautas de suas ancestrais nos meios de expressão atuais; que têm usado a internet como força política para exigir um mundo menos machista; que não cansarão enquanto os números não forem favoráveis. E que estão fazendo a maior transformação possível: criar mais filhas feministas.
Já dizia a compositora Chiquinha Gonzaga, autora da primeira (e inesquecível) marchinha de Carnaval da história: “Ó abre alas que eu quero passar”.
*Por Beatriz Braga