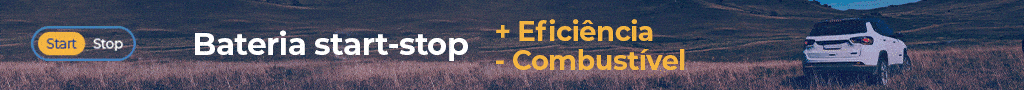A imagem de uma grande vulva, em tom vermelho intenso, encravada no terreno do Parque Artístico Botânico da Usina de Arte foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais do País este mês e reverberou até na mídia internacional. A obra Diva, da artista plástica recifense Juliana Notari, causou controvérsia num amplo espectro ideológico de pessoas: desde conservadores, até militantes que lutam contra a transfobia, além do movimento negro. Nesta entrevista a Cláudia Santos, Juliana analisa essas críticas, defende a força da obra, que segundo ela vai além da representação de uma vulva, mas expõe as feridas que as mulheres e a natureza sofrem na sociedade patriarcal. A artista comenta também a sua trajetória e a sua concepção de que a arte deve provocar as pessoas a refletirem.
Por que a obra Diva causa tantas controvérsias nas redes sociais, provenientes de pessoas da direita e da esquerda?
Eu acho que é porque o que está colocado na obra é a representação de uma parte do corpo da mulher que, ao longo da história, nestes dois mil anos de patriarcado, sempre foi um tabu, sempre foi reprimida. A vulva é o lugar onde a mulher sente prazer, não tem uma função reprodutiva, como a vagina, o canal vaginal, onde passa o espermatozoide.A repressão começa pela linguagem, até o nome vulva foi deixado de ser falado, porque chamar uma vulva de vagina, é a mesma coisa que chamar pênis de uretra. Há um silenciamento do corpo da mulher, que vem ao longo dos séculos, e a mulher precisa ser vista como a recatada e do lar, a que está em casa, fazendo o trabalho da reprodução, cuidando dos filhos, que não tem o trabalho reconhecido.
Grande parte desses ataques que, se partiram da direita, é proveniente de pessoas que pensam dessa forma. Eu sabia a todo momento que a obra iria provocar críticas, mas não dessa envergadura que foi. Mas antes de tudo, é preciso estabelecer que Diva não pode ser reduzida a uma vulva. Diva é uma grande ferida. Caso ela fosse apenas uma vulva, eu teria feito os grandes lábios, o clitóris. Essa dimensão traumática, expressa em sua forma de ferida aberta, é a mais importante para mim, fica mais agressiva esteticamente na minha obra. A obra não centra o discurso na questão genital, mas abre feridas históricas, coloniais, que estão para além das questões de gênero. Há também uma discussão e questionamentos das feminilidades, da violência contra os corpos, incluindo o da Terra, na nossa sociedade patriarcal e capitalista.
As críticas da esquerda que foram em torno da questão racial e de classe social surgiram a partir de uma foto, postada por mim no Facebook e no Instagram, em que é mostrado o processo de construção da obra. Nela, eu, a artista, uma mulher branca, apareço em primeiro plano e os trabalhadores – na maioria negros – trabalham na obra ao fundo. A foto é um retrato da nossa sociedade brasileira. A arte não está apartada da sociedade, ela reflete a sociedade e a arte também é um lugar muito elitizado.
Mesmo entendendo que, enquanto imagem, ela possa endossar o racismo estrutural que molda o Brasil desde sua colonização, ela também denuncia as feridas coloniais que persistem e nos traumatizam até os dias atuais. Esses sintomas históricos não são causados apenas por mim, mas são responsabilidade de todos nós que deixamos essas feridas históricas inflamarem. Feridas como a escravidão, sexismo, o extermínio dos povos indígenas e a ditadura militar não foram tratadas e, por isso, o Brasil segue doente. Os trabalhadores da construção civil contratados pelo engenheiro para construir Diva são sintomas dessas feridas, são descendentes de escravizados negros, de indígenas, como a grande maioria dos trabalhadores urbanos e rurais do Brasil.
Então, é uma questão estrutural. Como a gente sabe, os escravos não tiveram acesso à terra, à reparação, à educação, ou seja, não tiveram acesso à sociedade. Foram apartados; foram para as periferias, os subúrbios, as favelas.
A outra crítica partiu de mulheres trans que acham que uma vulva reforça o binarismo, a ideia de que só existem dois sexos. Na verdade, não é nada disso, acho que existem várias sexualidades, vários femininos e que todo mundo pode falar. A questão é que elas também têm que ocupar espaço de fala, de colocar a arte delas nos espaços de arte. Aí, são necessárias políticas públicas de inclusão. A todo momento eu não quero anular, eu quero abranger e também quero defender meu direito de falar. Eu sou uma mulher que acha que eu posso falar de uma parte do meu corpo. Eu sou artista, eu sou livre para falar, isso não quer dizer que eu vou anular outras formas de viver a sexualidade, muito pelo contrário, acho que tem que ser multi.
Você explicou que a obra busca questionar a relação entre a natureza e a cultura numa sociedade falocêntrica e antropocêntrica. Você poderia detalhar essa ideia?
Falocêntrica é essa questão do patriarcado. Vivemos dois milênios de patriarcado, que é justamente essa questão de o homem ter o protagonismo, que ocupa o poder, de usar os corpos dos negros, das mulheres, dos indígenas, reprimindo-os para transformá-los em subalternos a esse poder. É, principalmente, o macho, hétero, branco, que é esse homem, símbolo desse patriarcado, que acha que está no topo do poder e se acha superior e que os outros, todos os diferentes, precisam ser seus serviçais.
O sentido antropocêntrico está relacionado à espécie humana em geral (homens e mulheres), que se acha acima de todas as espécies, que tem o direito de desmatar, de matar os animais, de remover montanhas e “comer” a terra, por meio do extrativismo de que o consumismo necessita para poder mover a máquina. A espécie humana se acha o centro da Terra e está acabando com tudo. Então, essa separação, natureza e cultura, em que o homem que se coloca acima da natureza com sua cultura, é que faz com que o antropocentrismo seja uma praga que está nos levando à destruição do planeta.
Em Diva eu vi a possibilidade de expandir o campo de interpretação da obra ao trazer essa forma da ferida/vulva em grande escala para paisagem natural. Ela passa a dialogar com Gaya, a Terra, com o corpo da mulher e com as feridas coloniais do Brasil que persistem até hoje. O local na Usina de Arte, uma colina que antes era uma canavial, agrega outras camadas de significados para obra. Aquela região, a Zona da Mata Sul, pode ser tida como uma grande ferida. No passado, a floresta de mata atlântica, que antes existia, deu lugar às plantações de cana-de-açúcar. A monocultura, nesse caso, pode ser tida como uma grande ferida no solo, no corpo da terra, por isso a necessidade das suas dimensões superlativas. Além disso, há a questão de que o Nordeste canavieiro é uma sociedade extremamente patriarcal e a violência contra a mulher desde sempre fez parte dessa cultura.
Na sua performance Symbebekos, há uma trilha de cacos de vidro que você vai retirando-os com os pés. Na videoperformance Mimoso, você surge nua, amarrada pelos pés a um búfalo, e puxada ao longo do areal de uma praia na Ilha do Marajó. Para você arte precisa causar impacto e incômodo nas pessoas?
Não, a arte não precisa impactar ou chocar, ela tem que criar perguntas, reflexões. Se ela incomoda é bom também, porque, a partir do incômodo, a gente passa a refletir, sai daquele lugar comum do modus operandi dessa sociedade, que tem regras que levam a um sistema opressor de várias outras formas de viver. Mas, na minha trajetória, meus trabalhos sempre lidaram com esses desejos, essa questão mais escatológica, tudo aquilo que a sociedade não quer ver e que reprime. Sempre trabalhei com cabelo, com sangue. Há esse desejo meu de trazer essas coisas que são reprimidas, recalcadas pela sociedade ocidental.
.
LEIA A ENTREVISTA COMPLETA NA EDIÇÃO 178.3 DA REVISTA ALGOMAIS: assine.algomais.com