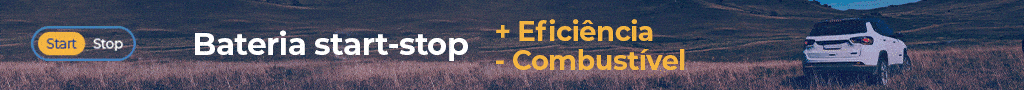Escritor sertanejo, radicado em São Paulo, Marcelino Freire é dono de um texto forte e enxuto, que tem sido reverenciado pelo público e crítica. Em 2006 ganhou o Prêmio Jabuti com Contos Negreiros. Na entrevista concedida a Cláudia Santos e Rafael Dantas, regada a risos e reflexões, ele fala sobre sua trajetória e critica a glamourização da literatura.
Como foi sua infância no Sertão?
Sou de Sertânia. Tem 26 anos que moro em São Paulo. Recentemente comecei a pensar de novo na saída da minha família do Sertão de Pernambuco para ir morar em Paulo Afonso, na Bahia. Quase me torno cidadão baiano. Quando eu tinha 8 anos de idade a família veio para o Recife. Minha mãe teve 14 gestações. Dessas, 9 vingaram e eu sou o caçula.
Essas mudanças foram motivadas por trabalho?
Foi a procura por melhores condições. Agora vocês viram que Sertânia foi manchete nacional, em função da Transposição do Rio São Francisco. Estou agora com 50 anos. Eu estaria esperando água até agora se estivesse na cidade, estaria pulando e fazendo festa naquele lago artificial como meus conterrâneos estão fazendo agora. (risos). Curiosamente, apesar de ter saído muito jovem, Sertânia não saiu de mim. Indiretamente eu peguei essa herança de meu pai. Ele tinha muito receio de que a gente, chegando no Recife, disesse que era do Recife. Acontece muito isso, quando você chega na capital, vindo do interior, você não é de Sertânia, de Cabrobó, você é já do Recife. Eu cheguei com 8 anos e fiquei até os 24. Fiz faculdade na Unicap, não terminei o curso de letras. Depois tive esse chamamento para São Paulo, deixei faculdade, deixei tudo. Lá todo mundo me perguntava de onde eu era, porque eu falava diferente. E eu afirmava com todas as letras: Sou de Ser-tâ-nia. Levei essa herança para São Paulo e estou lá até hoje.
Como a literatura entrou na sua vida?
Dessa necessidade de ler, de aprender logo. De ganhar uma profissão. Minha mãe insistia que a gente estudasse. Então muito novinho, uns 7 anos, eu já lia. Em um momento, com uns 8 ou 9 anos de idade, a poesia de Manuel Bandeira atravessou o meu caminho. Uma poesia que eu vi em uma gramática de um irmão mais velho. A poesia se chamava “O Bicho”. A partir dessa leitura eu quis ser aquele poeta. Eu gostei daquilo que ele falou para mim. Eu não sabia que existia um homem catando comida na minha rua. Eu via, mas não enxergava. Eu pensei: se ele diz uma coisa que eu não sei, ele deve ter outras coisas que eu não sei para me dizer. Fui atrás do livro do Manuel Bandeira, de outras poesias dele, numa casa que ninguém lia. Não havia biblioteca, daí uma professora sabendo desse meu encantamento, me deu uma antologia do Manuel Bandeira. Eu quis ser poeta a partir dessa contaminação que Manuel Bandeira exerceu em mim. Aí fui atrás de outras poesias e fiquei um menino melancólico. Um menino que achava que iria morrer tuberculoso. Manuel Bandeira tinha tuberculose, fui descobrir outros poetas com a mesma doença, Castro Alves, Augusto dos Anjos. Eu achava que iria morrer cedo. Eu tinha muita melancolia. Nunca fui de exercitar os músculos do corpo. Nunca fui bom de futebol ou de educação física. Eu era bom de escrever e ler poesia. Eu exercitava os músculos da alma.
Qual foi a reação de sua mãe ao saber que você queria ser poeta?
Nunca vi uma mãe criar um filho e querer que seja poeta quando crescer, mas dessas profissões que você sabe as funções que ela tem. Você sabe para que serve um médico, um engenheiro. Mas para que serve um poeta? Agora, curiosamente, o primeiro lugar que fui respeitado como escritor foi na minha casa, porque eu não era bom para exercitar esses músculos cotidianos. Levantar uma pedra, carregar um balde, fazer uma feira. Era péssimo. Agora me colocasse para escrever! Eu escrevia as cartas da casa. Lia as bulas de remédio da família inteira. Lia a Bíblia para minha mãe. Aí ela dizia: não mande Marcelino fazer isso, mande ele escrever. Eita menino que escreve bonito!. Porque o grande momento meu da criação era quando ela mandava eu escrever as cartas para as comadres dela. Eu escrevia aquelas cartas muito bonitas a partir do que ela noticiava para mim. Eu enfeitava e no final eu lia. E ela se emocionava. Na leitura da Bíblia, lembro que eu inventava milagres. Ela estava acompanhando a leitura, aí ela dizia: Jesus fez isso? Eu dizia: fez. (risos)! Nunca tive muita disposição para as coisas práticas, mas eu lia bastante. Lendo romances, contos, poesias, fui percebendo o poder da leitura. Ora, eu operava milagres (risos)! Eu emocionava pessoas escrevendo uma carta. Eu lia as bulas de remédio da família inteira. Se eu lesse uma bula errada eu matava todo mundo. Desconfie daquele que você julga o mais fraco da casa. (risos).
Como foi participar das oficinas de Raimundo Carrero?
A partir da leitura de Bandeira comecei a escrever poesia, participando de grupos de poesia já aqui no Recife. Participei de um grupo chamado Poetas Humanos. Paralelo a isso eu trabalhava em um banco. Fui office boy, escriturário e revisor de textos, no finado Banorte. Estava muito cansado do banco, eu ia ser chefe de seção. Quando me vi chefe de seção, eu disse: vou fechar a bodega, minha trajetória não vai por aí não. Cheguei em casa dizendo que fiz um acordo lá e deixei o trabalho. Meus pais disseram: meu filho, o que você vai fazer? Eu disse: vou dar o dinheiro da indenização para vocês e vou passar um tempo conhecendo os escritores dessa cidade. Olha que coisa, no final dos anos 80, deixei o banco numa semana, na outra eu vi um anúncio no jornal dizendo que o Carrero, que eu conhecia de livros, estava criando a primeira turma de criação literária no Recife. Eu disse: é isso! Me escrevi. Acontecia na livraria Síntese, perto da antiga Livro Sete, na sala Graciliano Ramos. Chego lá, me deparo com um homem apaixonado pela literatura, visceral. Era Carrero na sua primeira turma. Eu deveria estar com vinte e poucos anos. E eu gostei muito desse aprendizado e de encontrar pessoas afins, encontrar os meus parceiros do crime (risos). Ali era um bando de cangaceiros celebrando a literatura toda a tarde. Enquanto a cidade estava agitava atrás dos seus compromissos econômicos, a gente estava lendo Graciliano Ramos, festejando Raduan Nassar, falando de Solano Trindade. Pense que luxo! Ali foi bom porque comecei a exercitar como o meu texto batia no ouvido do outro. Nessas oficinas acabei organizando um original de contos e mandei para o meu primeiro concurso literário. A oficina ajudou a me organizar. Mandei para um concurso da Fundarpe, ganhei menção honrosa. A menção honrosa dava direito a publicação. A publicação do primeiro lugar era garantida, mas a menção honrosa dependia da verba. Bati nas portas da Fundarpe várias vezes, mas não teve jeito. A gestão estava mudando, a gestão posterior não queria arcar com os compromissos da anterior. Aí fui embora para São Paulo. E agradeço muito ao Raimundo Carreiro. A oficina me ajudou a encontrar a minha própria voz, a minha personalidade da página. A página é a extensão da personalidade do escritor, ele tem que estar ali. Ele tem que vestir as palavras com que ele escreve. Eu senti que as palavras que eu escrevia estavam inscritas em mim, fundadas. E isso a oficina me ajudou a enxergar.
Você foi a São Paulo para se profissionalizar como escritor?
Na verdade eu achava que iria morrer aqui, feito um coqueiro. Olha, sou muito preguiçoso, se você me der um suco de maracujá eu fico sentado naquela cadeira ali. Nunca pensei que eu fosse para São Paulo. Fui muito movido por amor. Fui apaixonado, pensando que ficaria em São Paulo e iria viver eternamente uma grande paixão. Aí descobri em São Paulo que a vida é feita dos amores possíveis e não impossíveis. Aquilo era um amor impossível. Não deu certo, como todo amor (risos). Em São Paulo fui buscar trabalho como revisor de textos, levei a profissão de revisor comigo. Cheguei em São Paulo em 13 de julho de 1991. Consegui trabalho em 16 de setembro de 1991, numa das principais agências de propaganda do Brasil, a AlmapBBDO. Passei muito tempo revisando rótulo de água mineral e textos que não mereciam ser lidos uma única vez. Sabe como eu me vingava do rótulo de água mineral? Escrevendo um conto. Eu não brigava com a minha profissão, estava fazendo o que eu sabia e era isso que era o que estava me mantendo numa cidade tão feroz como São Paulo, mas não esqueci a literatura. Mesmo não esquecendo, demorei quatro anos para escrever meu primeiro livro, que escrevi por conta própria. Dentro da agência mesmo. A agência de publicidade é lugar de muito dinheiro e de um maquinário poderosíssimo. Os melhores computadores, as melhores impressoras. Eu disse: o meu livro está aqui.
Qual foi o título?
Não gosto de dizer porque toda vez que eu encontro o primeiro livro por aí eu compro para ninguém comprar, porque é muito ruim (risos). Às vezes encontro na Estante Virtual, vou lá e compro. Às vezes chega alguém com o livro numa palestra, eu pergunto: quanto você quer? Brincadeiras à parte, esse livro é irregular em certo sentido, mas foi muito importante para tirar aquele texto da gaveta e como afirmação dessa paixão. Para não ficar só revisando rótulo de água mineral. E olhe que vou lhe dizer: eu era o melhor revisor do País (risos). Ganhava um dinheiro bom danado para revisar composição de água, mas não queria ser revisor de rótulo. Queria ser escritor, por isso escrevia um conto a cada revisão que eu fazia. Aí fiz esse primeiro livro, lancei em São Paulo e no Recife. Com os dois lançamentos eu paguei o que gastei. Na verdade, quem vai para o evento do primeiro livro são os amigos e familiares. Tinha uma família grande aqui. Eu chantageava, porque eles estavam com saudades de mim. Tinha tio que comprava 5 livros de uma vez. Caprichei no croquete, no vinho seco. (risos) Família gosta do evento. “Meu filho está importante”. “Eita, meu sobrinho, veio de São Paulo lançar o livro”. Aí compram e assim eu paguei as suaves prestações que fiz na agência. Não aconteceu nada com esse livro a não ser a afirmação de algo que teria que sair da gaveta e interferir na geografia daquele lugar. Dar para mim alguma perspectiva, autoestima, por menor que fosse. Aí depois comecei a preparar meu segundo livro, de contos também. Convidei um artista plástico, chamado Jobalo, que é pernambucano e mora em Milão há muitos anos. Maravilhoso artista que fez parte do grupo dos Poetas Humanos. Ele fez uma interferência plástica na edição desse livro que eu iria lançar também por conta própria. Ele mandou fotografias lindas. Mas com as fotografias coloridas dele, o livro ficaria muito caro. Aí para ajudar na publicação desse livro, eu fiz um livro chamado "eraOdito", que trabalha com frases famosas, ditados populares, que eu encontro resinificações dentro do provérbio ou frases. Resultado: "eraOdito" me tomou dois anos, porque fez um relativo sucesso. Saiu em jornais, virou vídeo, animação, camiseta. Virou tanta coisa, me tomou dois anos. Comecei a ser convidado para festivais de literatura. Ele virou best seller nas livrarias de São Paulo. Eu mesmo levava esse livro na fila dos vendedores. O dono da Livraria Belas Artes diz que dois autores frequentaram a fila de vendedor do próprio livro e acabaram virando best seller daquela livraria: Paulo Coelho e eu. O Paulo Coelho fez a escolha certa e está rico demais (risos). Eu continuo na batalha, não preciso mais estar na fila de vendedor, mas não deixo de ser um camelô. Viajo pelo mundo o tempo inteiro. Conversando com o amigo Milton Hatoum, que também viaja demais, ele disse: “Marcelino, estamos virando camelô das letras”. E tem que ser assim mesmo para poder de forma mínima combater a mediocridade reinante.
Você começou a sobreviver da sua arte a partir desse livro?
Não, eu vivo de literatura direta e indiretamente há uns 10 anos. Mas para deixar a agência de propaganda e depender de direitos autorais não. O "eraOdito" vendeu bem, mas não era um dinheiro que dava para eu contar mensalmente com ele. Mas fui ganhando algum destaque, as pessoas iam me conhecendo no meio literário, eu estava construindo a minha trajetória. O grande momento foi quando chegou o livro Angu de Sangue, já no ano 2000. Virou peça de teatro, o coletivo ganhou o nome Angu por causa desse livro. Foi o primeiro publicado por uma editora, porque apareceu um crítico literário pernambucano chamado João Alexandre Barbosa. Morando e residindo em São Paulo há muito tempo, tomou contato com um dos meus contos, ficou muito interessado. Ele me indicou para o Ateliê Editorial. João Alexandre era colunista da Revista Cult. Ele publicou o prefácio de Angu de Sangue em primeira mão na revista Cult. O aval da editora e do crítico foi muito bem recebido pelos jornais, saindo da pilha de livros que o jornalista recebe e foi muito bem resenhado, com destaque na Folha de S. Paulo e de todos os suplementos de literatura naquela época. Nesse momento do Angu de Sangue, no ano 2000, conheço escritores em São Paulo e começo a fazer um movimento literário com eles que estavam com o mesmo desejo que eu, que era encontrar a sua turma, encontrar mais uma vez os meus parceiros do crime. Essa turma aí, que se autodenominou Geração 90, publicou em antologias lançadas e organizadas pelo escritor Nelson de Oliveira. Muitos estão escrevendo, participando de festivais literários e ganhando prêmios, como o próprio Nelson de Oliveira, Luiz Ruffato, Andréa Del Fuego. E eu não parei de provocar coisas. Publiquei outros livros pela Ateliê, organizei uma antologia de micro contos que deu o que falar na época. Eu sou uma figura que escreve, mas que ao mesmo tempo provoco uma cena.
Nesse sentido, como começou a Balada Literária?
Nessa mesma teimosia e vontade sertaneja. Eu faço as coisas porque eu não posso fazer. Eu não posso, acredito que posso e acabo podendo. A Balada Literária acontece desde 2006 em São Paulo, já são 12 anos. Acontece no bairro em que eu moro há quase 20 anos, na Vila Madalena e arredores. Mas a Balada já está chegando em outras partes de São Paulo, como a Avenida Paulista e o Centro da Cidade. É uma festa literária. Costumo dizer que enquanto outras festas são feitas com um milhão, a Balada Literária é feita com humilhação (risos). Eu vou pedindo para um e para outro. Ainda bem que eu me orgulho muito de ter um capital afetivo que é muito importante. As pessoas entendem a minha luta que é de colocar a literatura de forma mais pulsante e viva na vida das pessoas. A literatura sem frescura. Desde a primeira edição da Balada Literária eu misturo escritores com atores, pintores, rappers, travesti, drag queen, festa punk gay, roda de samba. É uma balada que todo mundo se encontra, está todo mundo junto, para celebrar a literatura. Acontece durante cinco dias em novembro. Já passaram pelo evento de Antônio Cândido a Allan Jonnes, jovem poeta de Aracaju. Caetano Veloso, Adriana Calcanhoto, Ney Matogrosso, Tom Zé e uma geração extraordinária de Teresina (PI). Uma preocupação que a Balada Literária tem desde a sua primeira edição é também se irmanar com essas distâncias, trazer artistas e escritores de Palmas, Macapá, Porto Alegre, dos países latinos. A Balada Literária não é um evento de tradução simultânea. Eu detesto aqueles aparelhinhos no ouvido. Eu prefiro ouvir a fala da pessoa. Outra coisa que a balada tem é que não há um distanciamento. Lembro que quando Antônio Cândido foi para a Balada era como um festival de rock, ele estava cercado pelas pessoas. Quem não tinha lugar para sentar ficava sentado no chão. Com Caetano Veloso foi a mesma coisa. Alguns autores quando vão para a Balada causam histeria, sabe? E eu não coloco separado, é tudo junto. Ano passado tivemos o Ney Matogrosso, porque o homenageado era Caio Fernando Abreu. Ele era amigo do homenageado. Esta edição acontece de 8 a 12 de novembro, em livrarias, bar, boate, ao ar livre, locais fechados e abertos. E é gratuita. Você conversa com o escritor, os próprios escritores se encontram. Existe um intercâmbio muito valioso, muito pulsante entre eles que ficam amigos, começam a fazer eventos em suas cidades. É um grande encontro. Eu não vejo a literatura de outra maneira, tudo o que eu faço é essa celebração constante. Literatura é muito chato. Muito solene. Essa solenidade não é problema da literatura, mas do que está no entorno da literatura, que vai afastando o estudante, o jovem. A literatura está ao lado do celular, da batata frita, do rock, da diversidade.
É interessante você falar isso, porque o seu texto é muito direto. Muitas vezes marcado por frases curtas e fortes. Você acha que isso rebate nos jovens nestes tempos de Twitter?
Comunica. E eu quero comunicar. Quero dizer logo onde está doendo e sair de perto. Quero dizer logo o que eu quero e não encher o saco de ninguém. Nesse sentido, meus textos são gritos, chegam logo para o outro sem delongas. Eu gosto muito disso, os escritores e artistas que falaram muito comigo, que pegaram na minha mão, foram escritores assim. Eu poderia não entender tudo o que o Manuel Bandeira escreveu, mas sentia o que ele sentia.
O poema que te chama atenção, “O Bicho”, mostra esse lado desumano da sociedade, da miséria. Sua literatura também aborda os marginalizados. O submundo te fascina?
Sempre estive neste submundo. Sertânia é um submundo. Escolher fazer poesia na minha casa, naquele mundo, era um submundo. Escolhi fazer teatro no bairro de Água Fria. Morei lá por muito anos, um dos últimos bairros do Recife, submundo. Dentro de casa as escolhas que eu fazia também. Não ia fazer administração, fui fazer letras.
“Contos Negreiros” é o auge desse submundo na sua obra?
Contos Negreiros é um livro que fala de preconceito. Penso que não, mas sou muito afetado pelas coisas. Quero escrever para entender os absurdos a minha volta. Como sou muito covarde, não consigo pegar em armas, eu pego em palavras mesmo e quero me vingar do que está me afetando. “Contos Negreiros” é um livro que fiz em 2005. Aí eu via preconceito contra o nordestino, o gay, o negro, o analfabeto, o índio. Tudo o que de fato está à margem. É um livro sobre opressores e oprimidos. Foi o primeiro livro que publiquei pela Editora Record, que me procurou na época em função da repercussão dos outros livros e dessa ação que eu fazia permanentemente com meus projetos. Eles publicaram e o livro ganhou o Prêmio Jaboti de melhor livro de contos naquele ano. Até hoje é muito encenado, discutido, adotado em vestibular, escolas. Tem essa questão. Agora mesmo que estou dando essa entrevista tem um espetáculo em cartaz no Rio de Janeiro, chamado Contos Negreiros no Brasil e tem a Mostra do Coletivo Angu de Teatro no Recife com duas das peças baseadas em livros meus. Você falou também sobre essa coisa da internet, de comunicar. O texto fala tão diretamente e tão fora do chão. Os avessos que construo naquilo que estou escrevendo, fugindo do lugar comum, sem concessão absolutamente nenhuma. Isso bate muito no jovem como algo que ele acha contundente de ouvir. Que se comunica muito rapidamente. Que tem comunicação com o rap. Tanto é que um dos textos de “Contos Negreiros”, o rapper Emicida me convidou para gravar no último disco dele.
Ele tem muitos diálogos também. Acho que a transcrição para uma peça ou filme não deve ser tão complicada.
Não é. Esses contos e essas coisas que escrevo estou sempre pensando em teatro, na palavra falada. O teatro me ajuda nessa palavra oferecida para o outro, uma projeção de fala. Meus personagens são esses monólogos, têm uma fala boa de gritar. São ladainhas, queixas, rezas. Costumo dizer que eu escrevo rezando meus contos. Termino de escrever eu vou lê-lo em voz alta e rápida porque, se tiver algum problema de ritmo, eu tenho que mudar. Isso o ator reconhece, ele empresta seu corpo e seu gesto para aquela voz que está ali articulada. Tem um conto meu, de um livro de 2008, chamado Da Paz. Foi escrito em 2006, o jornal O Estado de S. Paulo pediu um conto para mim que se passasse no dia em que o PCC tomou conta da cidade de São Paulo, que a cidade parou completamente no ano de 2006. Sou muito ligado a essa fala teatral, à oralidade e aos personagens femininos, porque uma pessoa que me influenciou muito foi minha mãe, na sua fala. Imediatamente pensei na personagem Da Paz, pensando nas mães que perderam seus filhos na periferia daquele dia. Esse conto o jornal não publicou. Era para ser publicado no domingo, quando deveria ter uma passeata em São Paulo pela paz. Eles deram uma desculpa e não publicaram. Só que esse conto infelizmente continua atual. A toda hora ele aparece na internet. Inclusive com a interpretação de uma atriz de São Paulo maravilhosa, chamada Naruna Costa, que faz parte de um grupo da periferia de São Paulo, que interpreta brilhantemente esse conto. À luz dos últimos acontecimentos, principalmente do Rio, esse vídeo da Naruna viralizou e está com mais de 350 mil visualizações em dois dias. Algo que a circulação do jornal não alcançaria. Sempre que tiver uma mãe perdendo um filho e uma sociedade hipócrita se organizando para compartilhar correntes do bem ou para colocar uma rosa vermelha na mão e achar que resolveu tudo, esse conto continuará valendo, tanto no Iraque como em qualquer outro lugar. Esse conto, inclusive, já foi traduzido para o francês, espanhol... Começo o conto com “Eu não sou da paz”. Já brinquei com o movimento que fazia assim. É o nome do personagem e é esse movimento.
Você diz que se comunica bem com os jovens. Você concorda com a opinião de que eles não gostam de ler?
Acho que nunca se leu tanto. Mas as pessoas acham que ler é só quando se está com o livro na mão. O menino pode estar numa tela de celular lendo Kafka. Tem sobrinho meu que me escreve perguntando como se escreve ansioso, se é com “C” ou “S”, porque está escrevendo para os amigos. Eles escrevem cartas o dia inteiro para os amigos. Mas as pessoas perguntam: Você acha que aquilo é língua portuguesa? Eu acho que eles estão se comunicando do jeito deles. É o movimento vivo da língua. Eu prefiro um blz do que um tomá-lo-ei. Todas as academias de letras no Brasil estão corretíssimas no português. E não pulsam nada. Não há garantia que a Academia Brasileira de Letras esteja cheia de escritores que interessam, só porque sabem português correto. E tem muitos jovens que estão escrevendo, se comunicando de forma viva, pulsante, do jeito deles de estar no mundo, de estar lá, de se curtir. Claro que em todo lugar você precisa de um filtro do que você está lendo e escrevendo. Tudo isso é uma questão de sabedoria do uso daquele instrumento, não deixar que aquele instrumento use você. Isso é em tudo. A internet tem muito lixo, livraria e academia também tem muito lixo. O lixo é uma produção humana. (risos). Agora é só a internet que tem, só o jovem que não lê? O professor tem que fazer com que esses jovens que usam a ferramenta celular saibam que Machado de Assis sempre foi muito Twitter. Foi muito moderno. Era um escritor que escrevia romance com 240 micro capítulos. Isso não é legal do garoto saber, em vez de ficar estudando Machado de Assis sobre uma perspectiva romântica, sobre uma perspectiva histórica, sociológica, de vocabulário? Ele pode dizer que Assis era negro, gago, fez uma produção literária vastíssima contra o seu tempo e contra os preconceitos que sofreu. E era moderno para c.... Ele pode conversar tranquilamente com Emicida. E se disser que a Bíblia é Twitter, porque é escrita em versículos? Qualquer versículo da Bíblia dá em um Twitter. É uma questão de sedução e paixão. A literatura tem que ser encarada assim para não encaretar.
Você escreveu um romance depois de tantos anos escrevendo contos. Como foi essa transição?
Já estava muito automático na escrita dos contos. Já saia com muita facilidade, uma espécie de cacoete adquirido. É uma espécie de João Gilberto que só canta “O Pato”. “O pato vinha cantando alegremente, quén, quén” (risos) Eu estava numa fase quén, quén. Eu disse: não gente, tenho que matar logo esse pato. Eu queria ir para uma prosa longa há muito tempo, mas não tinha fôlego e não encontrava o jeito de escrever o romance. Porque nos meus contos eu gritei muito. Meus contos são gritos. Eu chegava no romance gritando. Tinha hora que eu não aguentava. Eu costumo dizer que se minha mãe me inspirou nos contos, o silêncio do meu pai me inspirou no romance. Encontrei o tom. Para o romance fiz uma coisa que nos contos não fazia, para fazer o Os nossos ossos eu fiz um esqueleto. Um capítulo é isso, no outro vou falar daquilo. Nesse eu falo da procura do corpo do garoto, naquele ele foi assassinato. Eu consegui fazer. É um romance muito curto. Mas a minha sensação foi de ter atravessado o Canal da Mancha. Fiquei muito feliz com o resultado e tomado do entusiasmo primeiro de começar do zero.
Os eventos literários se espalharam pelo País. Como você avalia esse crescimento?
Eles se espalharam. Toda semana recebo convite. Quanto mais festas e feiras literárias melhor para o escritor e para tirar a literatura desse casulo, desse peso. Colocar o escritor circulando, conhecendo os leitores, pegando o leitor à unha. Humanizando a figura do escritor. Também é trabalho, pois quanto mais você é convidado, mais você tem uma renda que te permite não voltar ou não entrar para um trabalho que você não queria fazer. Às vezes me falam: “Não é muito evento? Não é um excesso de feiras literárias? Isso não tem que diminuir?” Pos eu digo: Para cada show de Ivete Sangalo, 10 festas literárias. Para cada show do Luan Santana, 400 festas literárias. Para cada Criança Esperança 900 festas literárias. Ainda é pouco (risos). Meu sonho é do Luan Santana dizer que o show que estava agendado não aconteceu porque vão pegar aquele dinheiro para investir em eventos com escritores da África, chamar leitores, dar livros para as pessoas. (risos).