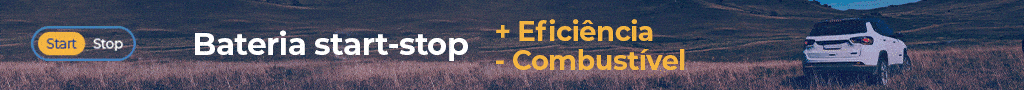O pensamento dialético e o talento para escrever levaram José Nivaldo Júnior a uma vida agitada: ainda muito jovem foi diretor do jornal Região, em Surubim, e chegou a ser detido no fórum da cidade por uma matéria publicada; participou de ações da luta armada, conheceu a ira dos homens de Fleury no Dops, realizou campanhas para candidatos de diferentes ideologias e hoje é membro da Academia Pernambucana de Letras. Veja mais detalhes desse irrequieto jornalista, publicitário e escritor na entrevista que segue.
Você nasceu em Surubim?
Eu fui feito em Surubim, criado em Surubim, mas nasci no Recife. O meu pai e minha mãe foram para Surubim. Ambos eram médicos. Como não havia maternidade e meu pai para não ficar com a responsabilidade do parto, decidiu levar minha mãe para o Recife. Era julho, inverno, as estradas ficavam intransitáveis. Fica-se oito dias sem ter condições de passar um carro. Aí minha mãe veio um pouco antes e nasci no Recife. Pouco tempo depois, voltei para Surubim. Eu me considero - apesar de ter nascido no Recife, amar esta cidade e ter escolhido viver aqui - surubinense porque minha infância foi lá.
Como foi sua infância?
Até meus 10 anos de idade, não tinha luz elétrica em Surubim. O que tinha era um motor de luz, que era ligado às 5 horas da tarde e desligado às 10 da noite, o resto do tempo era sem energia. Não tinha água encanada, além de não ter estrada asfaltada. Às vezes para irmos ao Recife ou a Limoeiro era uma aventura. Atravessávamos riachos cheios, parávamos para esperar a cheia do riacho descer. Usando uma expressão antiga de Aldemar Paiva, "no inverno as estradas eram muito lamurientas e no verão eram muito pueris". (risos)
É verdade que você iniciou no jornalismo aos 10 anos?
Sempre tive uma inclinação para de escrever. A minha casa era de intelectuais. Minha mãe era poetisa, nunca publicou, mas sempre escreveu. Meu pai não era tão refinado, mas era algo mais popular. Ele sempre estudou muito e leu muito. Então, minha casa era uma verdadeira biblioteca. Tínhamos toda literatura do Brasil atualizada, toda a obra de Eça de Queiroz, por exemplo. Eu vivia naquele ambiente convivendo com dois mundos. O primeiro era intelectual, não digo sofisticado, mas muito regionalista. Depois ia para a cozinha ouvir a conversa dos empregados ou ia para a rua ou para a fazenda ouvir a conversa dos vaqueiros. Ao mesmo tempo que eu tive uma formação cultural e intelectual, também tive um aprendizado das ruas. À época, as diferenças sociais em Surubim existiam, eram marcantes, mas se diluam na hora que sentava no banco da escola. Era uma proximidade muito grande. Um dos meus grandes amigos era um empregado lá de casa. Ano passado, entrei para a Academia Pernambucana de Letras e fiz um lançamento de um livro em Surubim. Lá apareceram Seu Caloreto, que era vaqueiro, Dona Nena, mulher dele, e três dos seis filhos e duas netas. Eu vivia em um casarão e era proibido de conviver com moleques de rua. No sábado, porém,, não tinha quem me controlasse. Ia para a feira. Lá convivia com todas as pessoas. Quando cheguei no ginásio, ia para o futebol. Quem não viveu no interior, não sabe a alma de um país. O que forma a personalidade de um país é o seu interior. O que dá o perfil aos Estados Unidos? Não é Nova York. É o Kentucky, são os Estados do Sul. Nova York é aquela coisa universal. A alma do Brasil não está em São Paulo, está no interior de São Paulo. Não está no executivo, está no caipira, no vaqueiro, no caboclo da Amazônia, no gaúcho.
E o jornalismo?
Inventei um jornal quando criança, que falava das notícias da minha própria casa. Minha casa era um centro de ebulição. Meu pai era médico e participava da política. Era de um dos grupos políticos de Surubim. Ele raramente ia na casa de alguém, as outras pessoas que iam lá em casa. Minha casa era um centro de convergência. Meu pai era da direita. Os aliados dele eram os conservadores e os coronéis. Em 1962, na campanha de Miguel Arraes contra João Cleofas, chega Arraes na cidade e vai lá em casa, porque as personalidades que ele precisava cumprimentar estavam na casa de José Nivaldo. Tinha notícia o dia todo lá em casa. Tinha no terraço, na sala e até nas dependências dos empregados. As famílias dos empregados iam para minha casa, então era uma confusão de gente. Eu datilografava as notícias, distribuía entre as pessoas e depois recolhia. Não sei se fazia sucesso, mas todos os visitantes achavam lindo e se divertiam com aquilo, mas eles eram suspeitos (risos). No ginásio (no colégio dos jesuítas), já com 12 anos, aprendi a fazer jornal mural, que os padres levaram a técnica. Aí inventei um jornal falado no grêmio. Depois, um grupo fundou um jornal chamado Região. Para a época e por ser feito em Surubim, tinha muita qualidade. Era algo realmente inacreditável. Em 1978, teve uma eleição municipal e o Região colocou a seguinte manchete "Em quem você aposta: Gentil ou Monsenhor?" Nossa glória é que o The New York Times botou uma manchete igual a nossa, mas com candidatos diferentes, claro. O The New York Times copiou o Região! Tinha terminado o ginasial e fui estudar no Nóbrega, no Recife. Saí dos jesuítas para ir à Universidade e saí de lá ateu. Já estava no Recife quando entrei no Região. Pouco tempo depois, virei diretor do jornal, o que não quer dizer muita coisa porque não era exatamente uma promoção. Antes do Região, fui correspondente, com 16 anos, do Diario de Pernambuco em Surubim e região. Ia passar o final de semana lá e fazia o apanhando de notícias da semana. Produzia uma matéria e trazia. Emplaquei várias manchetes. Dei um furo fantástico, que foi a queda de um avião americano, acho que até meio clandestino, que até hoje não foi bem esclarecido porque era época da ditadura. Ele caiu em Umbuzeiro, na Paraíba, eu soube de manhã cedo, peguei um Jipe, dirigi mesmo sem ter carteira de motorista, e fui para lá. Cheguei bem antes de qualquer perícia. Fiz a matéria, mas não assinei. Os profissionais entraram na história, porque, na época, era apenas um colaborador da página do interior.
E na universidade você fez direito?
Como integrante de uma família tradicional pernambucana, minhas opções eram medicina, direito ou engenharia. Optei por direito. Fiz vestibular na Universidade Federal de Pernambuco, passei em uma boa colocação. Não era um aluno muito aplicado, mas sempre obtive bons resultados nas provas por conta da minha base. Era 1969. Na época, as escolas (de ensino médio) eram divididas. Existia o científico, para quem queria fazer exatas, e o clássico, para quem tinha a intenção de fazer humanas. Por isso, nunca estudei química e física, porque sempre tive dificuldade com matemática. No Nóbrega, tinha Filosofia, no curso clássico. Tive dois professores fantásticos lá, um deles era fã do filósofo grego Heráclito. Ele explicava a dialética, aí entrei em contato com essa vertente do pensamento e passei um ano para entender. "Entramos e não entramos no mesmo rio", "somos e não somos", "O universo não foi feito nem pelos homens, nem pelos deuses. Sempre foi, é e sempre será um fogo eterno com unidades que se acendem e que se apagam". Passei um ano tirando onda com o professor e sem entender nada. No último dia de aula, saí caminhando pela Conde da Boa Vista para pegar o ônibus com um amigo e começamos a conversar sobre o que o professor falava. Só nessa conversa que a ficha caiu. Entendi que somos e não somos ao mesmo tempo. A mudança está ocorrendo dentro de você e no universo paralelamente aos seu sentidos. Está tudo se transformando. As mudanças ocorrem, mas não percebemos. Quando entendi isso, me posicionei filosoficamente. Em 1968 fui fazer o vestibular, então me ausentei da política. Eu não era uma pessoa politizada. Eu fazia política estudantil, mas não tinha uma visão de esquerda. Passei o ano de 1968 estudando para o vestibular e ia para as passeatas como espectador. Ficava na calçada, acompanhava, mas não me envolvia diretamente. Em fevereiro, ocorreu um episódio que marcou minha vida. Em busca de uma manchete, meu pai em uma conversa comigo e com Flávio Guerra, que era um dos editores do jornal, falava de uma cooperativa de agropecuária que estava indo à falência. O sistema bancário na época não tinha essas redes gigantes de hoje. O forte do interior eram os bancos locais. As cooperativas agropecuárias eram muito fortes, então havia um sistema cooperativista espalhado pelo país inteiro e esse sistema dava suporte financeiro para as atividades locais. Ou seja, funcionava como um banco local tendo uma estrutura de cooperativismo por trás. A política econômica da ditadura era concentradora - como ainda hoje é - para favorecer os bancos. Eles tinham decido extinguir as cooperativas. A gente não percebia isso, só víamos a cooperativa de Surubim definhando. Nós colocamos a manchete "Cooperativa de Surubim vai a falência", e saímos para vender o jornal do meio da rua. Pouco tempo depois, estava o padre na tribuna da igreja bradando contra o jornal, o sino tocando, a polícia tomando o jornal na rua e toda a equipe recolhida, conduzida coercitivamente ao juiz local. Chamaram os pais, toda aquela confusão. À noite, chegou na minha casa o professor Antônio Vilaça, que era presidente da cooperativa agropecuária de Limoeiro, e que era um grande amigo do meu pai. Ele falava: "Vocês precisam entender que isso é muito sério". No outro dia, já tinham algumas pessoas estranhas na cidade. Investigadores, pessoas do Banco Central na minha casa. Não tínhamos percebido que uma interpretação local tocou no núcleo da política financeira para os bancos. A pressão foi tanta que o jornal fechou. A edição foi recolhida, não fomos presos, mas ficamos no fórum até que nssos pais chegassem e assumissem a responsabilidade. Esse juiz, depois de algum tempo, ficou meu amigo e quando fui sequestrado e preso, deu um depoimento por escrito fantástico. Naquele momento, ele deve ter recebido uns telefonemas de Brasília. Passamos a manhã toda lá, vi um soldado arrastando meu irmão. Para um soldado ter a ousadia de arrastar um filho de Dr. José Nivaldo pelo braço, ele deveria estar muito bem acobertado. Numa situação normal, aquele soldado não faria aquilo. Aquilo me chocou muito. Tanto que eu, pouco tempo depois, deixei de ser correspondente do Diario de Pernambuco. Me deu um desencanto com a imprensa, uma espécie de esgotamento precoce, me desinteressei. Após o AI-5, entrei para a faculdade já com o pensamento dialético. Contestação, ditadura, em três meses já tinha virado comunista. Já estava no movimento estudantil, quase na clandestinidade.
Qual era a organização em que você atuava?
Comecei muito ligado ao PCBR, mas não cheguei a entrar no partido. Fui para apenas uma reunião. Eu era e, ainda continuo, indisciplinado intelectualmente. Eu não sou bom seguidor de ordens. Eu até sigo, mas profissionalmente, não tenho problema nenhum. Na vida vida intelectual, quando não estou comprometido, sou indisciplinado.
O que o fez desistir de entrar nessa organização?
Por exemplo, tive uma reunião com a alta direção para ver quais jovens poderiam entrar no partido. O representante veio para avaliar e defendendo as teses do partido. "O inimigo principal é a linha educacional da ditadura e não podemos aceitar a linha oposta que é a repressão". Eu pedi a palavra e disse que ambos os lados estavam errados. Nem a política educacional, nem a política repressiva. Só tem um inimigo, que é a ditadura. Todas as políticas são irradiações da ditadura. Aí vi não dava para continuar. Minha militância só durou um dia. Com o passar do tempo, fui conhecendo pessoas de várias organizações. Em um dia, conheci o pessoal do Partido Comunista Revolucionário (PCR), que este ano completa 50 anos. Conheci o pessoal por conta de Leonardo Cavalvanti, um amigo que veio do Rio Grande do Norte, junto com a esposa, fugindo da perseguição política. Fiquei amigo de todos. Como tínhamos uma visão anti-ditadura bem reforçada por leituras de Che Guevera e do marxismo, eu e Leonardo fundamos uma organização que chamamos de PND, Partido de Nós Dois. Era inspirado em Ariano Suassuna, que tinha o Partido Armorial, que possuía apenas dois vice-presidentes.
Como vocês atuavam?
Nós do PND fazíamos alianças táticas com organizações de combate a ditadura. Fazíamos ações de pichações, por exemplo. Tínhamos dois carros, armas... Quando se fala em luta armada, imagina-se luta em campo. Esse é lado espetaculoso da guerrilha. A luta armada era cotidiana. Para fazer um discurso na porta da faculdade, se não tivesse proteção corria-se o risco de ser pego e arrastado pela própria direita. Para escrever "Vote Nulo" em uma parede era necessário ir armado porque um transeunte poderia te agarrar ou um policial militar de folga saindo do serviço poderia te prender. Tinha que ter alguma garantia. Em 1970, participei do movimento estudantil, participei da luta armada e entrei no CPOR (Centro de Preparação de Oficiais da Reserva). De cabeça raspada, fui fazer ações de propaganda contra a ditadura. Não me afastei da atividade política, mas me afastei das atividades partidárias, até por falta de tempo. Passava o dia lá e à noite ia para a faculdade. Aproveitei para dar um intervalo, embora participasse de algumas ações. Também passei a dar aula, fui ser professor. Depois, saí do CPOR, voltei para faculdade e intensifiquei a atividade de militância.
Como foi sua militância?
Eu era amigo do pessoal do PCR e fazia algumas ações de maior importância pela amizade e pela confiança. Eu tinha um Opala, que era um carro que nem todo filho de usineiro tinha. Manoel Lisboa (líder do PCR), que já era muito procurado, não podia ir de ônibus ou avião pra lugar nenhum. Eles me perguntavam se eu poderia transportá-lo e eu aceitava, mas sempre sabendo o que poderia acontecer. Nessas viagens, acabei conhecendo muito mais coisas que uma pessoa do meu nível de militância conheceria. Um belo dia, estou em casa dormindo quando Manoel Lisboa, que sabia onde eu morava e frequentava minha casa, bateu na minha porta de madrugada. Eu já era casado e ele disse "a companheira não pode ouvir. Vamos ali na esquina." Saímos do prédio, ele estava muito transtornado, tenso. Ele me falou que estava no meio de uma ação militar, da maior importância e perigo. Não me escondeu nada. "Tem um carro com uma função estratégica. Só não temos quem dirija.Você topa?" Eu aceitei. Troquei de roupa e foi assim que me meti na maior ação militar contra a ditadura do Norte-Nordeste.
Que ação foi essa?
Foi a ocupação e expropriação de um posto avançado da Aeronáutica, na região que hoje fica a Imbiribeira, que fazia parte da base aérea do Recife. O posto foi ocupado, os soldados foram presos, as armas e munições foram expropriadas, a fuga foi empreendida com todo sucesso e a ação teve uma repercussão inimaginável. A cidade parou nesse dia. Quando eles foram bloquear as pontes, eu já estava em casa há muito tempo. Ninguém ficou sabendo, nem mesmo meu companheiro do PND.
Quais foram as consequências?
Entre os meses de julho e setembro, o PCR foi estraçalhado, porque depois da ação na base aérea, veio toda a cúpula da repressão. A luta armada tinha arrefecido no Sul e o delegado Sérgio Fleury trouxe a elite dele para cá. Ele fez o levantamento, pegou um militante da Paraíba. Pegou algumas informações, soltou o cara. Mas ele não falou que tinha revelado algumas coisas. Eles começaram a mapear as rotas e os locais de encontros. Nesse trabalho de mapeamento pegaram Manoel Lisboa. Ele era o principal líder do PCR, mas gostava de fazer o trabalho de militante comum, tanto para dar exemplo, tanto para não perder o trabalho com a base. Havia uma operária da fábrica da Torre, que estava sendo doutrinada para entrar no partido. A assistente dela, que era a pessoa encarregada pela sua orientação ideológica, teve um problema e Manoel Lisboa foi fazer o trabalho no lugar dela. Essa operária morava na casa da irmã, que era casada com um policial. Um dia, ele descobriu os papéis que ela estava levando para casa e entregou para a polícia. Os agentes a seguiram e os encontraram na Praça Flemming, no Rosarinho. Os caras chegaram, montaram a operação e ele não teve nem tempo de reagir. Torturaram Manuel durante 16 dias e depois desse tempo sem ele falar nada, o assassinaram. Depois de morto ou ele ainda agonizando, ele foi levado para São Paulo e simularam um tiroteio em Moema (bairro da capital paulista) para depreciar a imagem dele. A ideia era forjar que ele tinha ido para um encontro com outro membro do partido que estava retornando do exterior. Ou seja, ele o tinha entregado. Mas ele não falou nada. Os restos mortais dele foram resgatados, tem um monumento em homenageando a ele em Maceió.
E você foi perseguido?
Nesse pacote, fui sequestrado e fiquei cerca de um 40 dias sequestrado. Tenho até provas desse sequestro. Cheguei no DOPS, que foi um lugar de tortura e morte de algumas pessoas, que ficava no quartel general na frente à Faculdade de Direito, onde eu estudava. No termo de declaração tem escrito assim: !Recebemos nessa data, 5 de outubro, o preso político José Nivaldo Barbosa de Souza Júnior, entregue por um órgão de segurança que o apreendeu no dia 29 de agosto". Ou seja, está documentado que durante esses dias eu estava em situação de sequestro ilegal perante as leis da ditadura.
Como foi passar esse período preso?
Eu não era um militante real. Nunca entrei no PCR porque o partido tinha algumas regras que eu não concordava. Todas as vezes que eles fazem um evento, eu sou chamado porque fui amigo do líder e herói deles. Tenho o maior orgulho dessa parte da minha vida. A máxima do partido era que deleção é traição e delator era para ser tratado como traidor, e eu não concordava com isso. Sempre dizia que ninguém poderia ser julgado sob tortura. Eles respondiam que o revolucionário não pode fazer isso. Manuel Lisboa e outros líderes praticaram isso ao pé da letra. Vários morreram sem entregar ninguém. Eu não tinha muita informação, não conhecia a estrutura partidária e não fazia parte de nenhum grau hierárquico. Era apenas amigo dos integrantes do partido. Estava na categoria de aliado. Dava minha contribuição. Mas tinha contato com o chefe do setor estudantil. Um dos dirigentes que fraquejou (durante a tortura) e, a partir de certo momento, começou a contar tudo. "Se vocês quiserem pegar Valmir Costa, o Hilário - que era um dos meus codinomes - é o caminho".
Você era a "isca" para pegar esse militante?
Fui preso pela ação contra o posto da Aeronáutica, mas também queriam Valmir e sabiam que eu tinha um encontro com ele. Fui muito torturado para entregá-lo. Montei uma história falsa de um encontro falso e consegui sustentar esse encontro. Eles se convenceram do meu nível de militante - menino rico, estudante de direito, "esse cara não aguenta tanta porrada" -, mas não sabiam do meu preparo psicológico, não levaram em consideração meu preparo militar. Ou seja, estava bem mais preparado do que eles supunham. Eles me apertaram, que não foi pouco, mas até um ponto para não me danificarem fisicamente. Levei muito choque e muitas pancadas de toalha. Coisa para não deixar marca e para não impedir a mobilidade. Porque eles sabiam que eu ia para o encontro de rua. Montei o plano deles na minha cabeça. Montei meu plano de resistência até onde eles acham razoável resistir para admitir que eu participei de um negócio que eles já sabiam. Eles fizeram umas perguntas, confirmei, mas eles não alcançavam que eu tinha alcançado que eles já sabiam essas informações. Eu marquei o encontro para o sábado. Disse que eles iriam ligar para mim no curso, ou seja, eles teriam que me levar para lá. Resultado: fui para o encontro, mas Valmir não apareceu. Voltei a sofrer alguns constrangimentos, mas tortura não sofri mais nada. Acho que eles não torturavam por maldade, mas para arrancar informação. Isso tudo aconteceu em 1973, no governo Médici.
Quanto tempo você passou preso?
Passei 22 meses preso, fui julgado duas vezes e absolvido. O julgamento sobre a ação da Aeronáutico foi cerca de um mês depois da eleição de 1974. Mas aí o clima estava legalista. O MDB elegeu 16 senadores e, de repente, a auditoria militar virou legalista. Teve uma testemunha que foi dar um depoimento e o perguntaram se ele reconhecia algum dos suspeitos. Eu sabia que ele tinha visto um companheiro. Ele disse: "O cara que estava de pé ao lado parecia com aquele ali". O auditor disse a essa testemunha que naquele momento não existia "parecia". O rapaz afirmou que achava que era. Mais uma vez, o auditor reclamou afirmando que ele não tinha que "achar". O rapaz acabou dizendo que não era. Se a pressão fosse para o outro lado, o cara tinha dito que era. O cara reconheceu, mas não falou.
Como você entrou na publicidade?
Eu saí da prisão em uma sexta-feira. No sábado, no final da manhã, quando estava na casa do meu pai, o telefone tocou e era Maria do Carmo Vilaça. Ela me ligou me desejando alegrias e dizendo que estava muito feliz por mim. Marcos Vinícios Vilaça, que tinha sido meu professor, me perguntou se eu queria trabalhar. Respondi que precisava. Era uma das condições da minha liberdade. Ele disse que um amigo dele, Marco Aurélio Alcântara, tinha uma agência de publicidade e precisava de um redator. Fui na segunda-feira, fiz um teste e ele acabou me chamando para me contratar. Ele me perguntou o que eu precisava para começar a trabalhar. Férias, respondi. Precisava de um mês de férias para desocupar minha cabeça. Ele me concedeu esse mês e foi assim que entrei na agência Alcântara.
Quando surgiu a Makplan?
Ela surgiu de um projeto como uma empresa de consultoria. Aí surgiu a campanha de Brizola para presidente para fazer e aí veio a ideia de transformar a Makplan em uma agência de publicidade. Antes, era apenas uma empresa para projetos específicos. A Makplan começa como agência de publicidade a partir de 1989.
Como foi a experiência com a campanha?
Foi algo bem complexo porque trabalhar com Brizola não era nada fácil. Era muito complicada a forma do PDT se organizar em torno dele. Muitas barreiras do pessoal. Mas ficamos amigos até o fim da vida. Um mês antes dele morrer, ele preparou uma rabada para mim, meu sócio e para o Capitão Lima, que era um dos escudeiros dele. Eu também fiz a campanha presidencial dele, em 1994, trabalhei para o PDT para as campanhas de prefeito em cinco capitais, em 1992, e trabalhamos para as campanhas de governador, senador e deputado no Brasil inteiro, em 1994. A ideia dele não era se eleger, mas de fortalecer o partido.
Você foi muito patrulhado por ser de esquerda e também trabalhar para candidatos da direita?
Em 1982, ano eleitoral, eu tomei uma decisão essencial na minha vida. Eu fui convidado para ser candidato a deputado estadual pelo MDB. Eu era uma liderança, tinha referências, saí de prisão respeitado e ninguém do movimento estudantil pode falar que foi entregue por mim. Em 1978, eu tinha começado a ser marqueteiro político freelancer e fiz as campanhas de Fernando Lyra, para deputado estadual, e de Cristina Tavares. Fernando se elegeu bem. Cristiana foi a maior surpresa de todos os tempos. Viramos amigos, mesmo discordando de muitas coisas. E aí veio essa ideia de ser candidato, principalmente por ter família no interior. Parei e pensei: O que eu quero para minha vida? Não quero ser político. Tinha que tomar uma decisão para o rumo da minha vida e decidi que não seria candidato. Declinei e me dediquei a campanha deles. Todo mundo falava que política era ideologia e eu sempre falei que era profissionalismo. Era vaiado nos congressos. Sempre falava que eu trabalho para quem me paga. Sou profissional, igual a um advogado ou um médico. Não julgo a ideologia de ninguém. Meu trabalho é apresentar da melhor forma possível as propostas e a história dele (candidato). Trabalhei para Marta Suplicy, e também para Paulo Maluf, para o PMDB em várias instâncias, e para grupos conservadores. Eu não misturo ideologia com trabalho. Então, no trabalho eu penso o que interessa ao cliente.
Qual sua expectativa das campanhas após os escândalos da Lava Jato?
Faço campanha desde 1978, participei de todas diretamente. Eu nunca fiz duas campanhas consecutivas com as mesmas regras. Todo ano eleitoral inventam regras. Este ano, existem novas regras que vão tornar as campanhas muito mais difíceis.
Em que sentido?
Financeiramente. Existe uma limitação da quantidade que cada candidato pode gastar, algo que não existia. Uma limitação enorme no processo de arrecadação porque empresas não podem doar, algo que eu acho um absurdo, mas minha opinião não interessa muito. Os caras fazem leis para atender as conveniências do momento, mas não pensam no conjunto das coisas.
Você acha que isso pode incentivar o caixa dois?
Com essa fiscalização que está aí, eu não sei como serão as campanhas. O marqueteiro foi supervalorizado, primeiro pela criação do termo marqueteiro, que antes era apenas publicitário. O marqueteiro é o quem traça a estratégia de comunicação da campanha e a executa. Isso veio dos Estados Unidos. O marqueteiro botou na cabeça que ele elege o presidente. Houve também uma ocupação do mercado político por publicitários brilhantes que deram prevalência à forma sobre o conteúdo, que se torna uma coisa muito bela na propaganda. Mas é despolitizado. São produções milionárias para dar recado emocional e, ao meu ver, despolitizadas. Eu não prego a feiura. Minha expectativa é que esse ciclo da forma prevalecer sobre o conteúdo encerrou. Para mim, o discurso político vai prevalecer. Isso vai ser bom porque vai baratear as campanhas porque vamos colocar o próprio político para falar, pode ser um ator ou até um filiado para dar o recado. A megaprodução saiu de cena. Espero que sejam campanhas pés no chão. Este ano vai ser tudo muito fiscalizado. Não vai existir caixa dois porque não vai ter empresa pagando conta de partido. Esse ano vai ser a prevalência da economia sobre o desperdício, do conteúdo sobre a forma.
Vai participar de alguma campanha majoritária este ano?
Enquanto o quadro político não se definir, poucas campanhas vão fechar contrato.
Como você se transformou em escritor ?
Eu tenho três livros e um ensaio, que foi feito por solicitação de uma família que era cliente. Eles me deram toda a liberdade para trabalhar, eu trabalhei, mas não foi um livro comercial. Foi um livro para a memória do coronel Quelê, que é citado até internacionalmente. Recentemente, até o Estado de S. Paulo o colocou como bibliografia do coronelismo. Meu primeiro livro é "Maquiavel - O Poder: História e Marketing", de 1991. Eu mesmo fiz 3.500 exemplares, a gráfica me deu 250 de cortesia e eu passei nove anos para vender os 3 mil exemplares, tendo feito lançamentos no Rio de Janeiro, em Frankfurt, na Alemanha. A editora Martin Claret publicou o livro em dezembro de 2001. Em março de 2002, o livro pipocou no Brasil inteiro. Na época, os jornais locais faziam a própria lista dos mais vendidos e ele esteve presente na do Zero Hora, de Porto Alegre, até o de A Crítica, de Manaus, além das publicações nacionais, como Veja e Exame. A Veja, por exemplo, fez uma crítica devastadora montada por alguns rivais que se sentiram incomodados pelo sucesso do livro. Eles não têm ideia do quanto me ajudaram. Quero agradecer publicamente a ajuda que eles me deram. A Veja devastou o livro e acabou virando o best-seller total. Está entre os livros mais vendidos do kindle, concorrendo a um dos prêmios. É o único livro de autor vivo que faz parte da coleção "A obra-prima de cada autor", da Martin Claret. De Pernambuco tem somente eu e Joaquim Nabuco. O livro é um estudo político, sem grandes pretensões, que virou fenômeno editorial até hoje. eu me proclamei autor de um livro só.
Mas você escreveu outros livros...
... Quando foi em 2010, eu senti que a vida do meu pai estava se esvaindo. Ele era da Academia Pernambucana de Letras (APL), autor de vários romances, publicados nacionalmente pelas grandes editoras. Então, eu fiz uma homenagem a meu pai. Escrevi uma continuação do primeiro livro dele e foi a partir daí que entrei na ficção. Por isso, que o livro chama-se "O Atestado da Donzela 2", porque o dele, lançado no final dos anos 70, era "O Atestado da Donzela". O meu é uma continuação livre usando o eixo criativo, mas dei novas formas aos personagens. Não vendeu grande coisa ainda. Como o primeiro passou 10 anos para vender, espero que esse vá nesse ritmo. Em 2014 completou 50 anos do golpe militar. Eu peguei um livro do meu pai chamado "Terra de Coronel", usei os personagens principais, porque não tenho capacidade para criar, mas consigo desenvolver muito bem. Eu não sou escritor, eu sei escrever. Publicitário tem que saber escrever tudo. De anúncio fúnebre a um texto de comemoração de vitória. Já que escrevi dois livros, decidi escrever "1964: O Julgamento de Deus", que é um livro mais forte politicamente. É um livro que eu pensei que iria ser odiado pela direita, mas não é. Um julgamento simulado de Deus, feito por um grupo de jovens, repercutiu no mundo inteiro e o mundo parou para acompanhar o julgamento. Meus livros de ficção partem do local para uma repercussão mundial, que faz parte do meu pensamento dialético de que tudo se relaciona.
Como é ser um imortal da Academia Pernambucana de Letras?
Quando meu pai morreu, eu tinha dois livros publicados. Aí veio um convite natural para eu me candidatar à cadeira dele. Eu não queria porque não teria uma obra que justificasse. Depois, abriu uma vaga e me chamaram novamente. Pouco tempo depois, morre Milton Lins, que era muito amigo do meu pai. Novamente, alguns amigos me chamaram para participar da APL. Eu disse que não estava nos meus projetos e se eu não aceitasse naquele momento era como se não quisesse mesmo. Eu acho que a hora chegou. Tomei a decisão em apenas um dia e aceitei. Me candidatei, fui candidato único porque os outros, gentilmente, desistiram. Tive uma votação significativa e estou lá. Cada reunião é de um enriquecimento cultural que nem eu fazia ideia de como era antes de entrar. As discussões são de altíssimo nível intelectual. São uns 30 frequentadores habituais. Tenho ido e às reuniões e amado. São palestras maravilhosas sobre os mais diversos ângulos. Do cangaço à estética, da poesia à interpretação da poesia na construção da imagem do Recife. São abordagens fantásticas. Querendo ou não, ali está uma seleção de talentos diversificados. Toda reunião é enriquecedora.