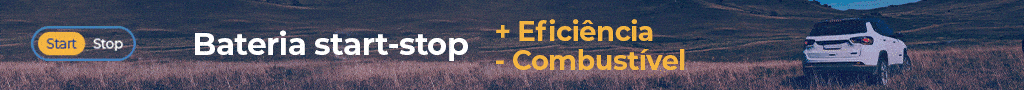Ao entrar no escritório da produtora de Antonio Gutierrez, conhecido no meio artístico como Gutie, chama a atenção a quantidade de crachás de festivais e feiras de música. É nesses eventos que ele garimpa os artistas ainda desconhecidos que vão se apresentar no Rec-beat. Nesta entrevista a Cláudia Santos e Rafael Dantas, ele conta como nasceu o festival e fala sobre os artistas hoje famosos que nele foram revelados e como está driblando a crise para obter o patrocínio para a 23ª edição do evento.
Como você se tornou o criador do Rec-beat?
Nasci em Bariri (SP). Saí de lá com 18 anos, fui para São Paulo, me formei em jornalismo e trabalhei na Gazeta Mercantil. Depois de uns quatro anos, o jornal me ofereceu ser correspondente no Recife. Um ano depois eclodiu o mangue beat. Eu era amigo das pessoas do movimento, porque, apesar de ser jornalista sempre fui ligado à música. Tanto que vários amigos meus em São Paulo tinham banda. Quando era adolescente, na minha cidade, eu organizava recitais, exposição de poesia, cheguei até a fazer um festival relativamente grande. Também gerenciava uma discoteca. Isso com 16 anos. Descobri, mais tarde, que sempre tive vocação para produção. Mas, para mim, isso não era uma profissão, era diversão.
Como foi criado o Rec-beat?
Um dia fui a uma festa em Olinda, havia pouquíssima gente. Foi quando ouvi, pela primeira vez, Mundo Livre S/A e Lamento Negro (que daria origem à Nação Zumbi). Aquilo me arrebatou. Estimulado por essa cena, mesmo sendo jornalista, criei uma festa que acontecia no Francis Drinks. Era um prostíbulo, no Bairro do Recife, que na época estava em ruína. Esse lugar era frequentado por marinheiros dos navios que aportavam aqui. Fiz um acordo no qual eu fechava a casa um mês e todo sábado tocavam duas bandas novas da cidade e fazíamos uma festa. Era o Projeto Rec-beat. Logo depois achei que poderia criar um festival, porque existia essa cena e na época havia uma mídia que cobria bem o que estava acontecendo aqui, como a MTV, a TV Cultura, a revista Bizz, a Folha de S. Paulo e o Estadão. Era um som original que soava muito novo. Mas me dei conta de que as pessoas que visitavam a cidade achavam que iam encontrar essa música em todo canto. Mas não, tanto é que as rádios locais nunca tocaram esse som, apenas em programas específicos. Essa música não tinha uma plataforma, a não ser o Abril pro Rock. Imaginei que aquelas pessoas poderiam ver um pouquinho desses artistas dentro do Carnaval. A ideia não era ser um festival para quem não gosta da folia, mas para o folião que veio conhecer a festa. A primeira edição foi num bar chamado Oficina Mecânica, em Olinda. No ano seguinte teve um hiato e no outro aconteceu no Centro Luiz Freire, em Olinda, durante o Carnaval. Era pago, com preço simbólico. Fizemos umas duas ou três edições ali, foi quando recebi um convite do secretário de Cultura Raul Henry para trazer o festival para o Bairro do Recife. Ele queria fomentar o Carnaval na região, onde não tinha tradição da festa. O Rec-beat viria como âncora para atrair o público jovem. A Fundação de Cultura apoiou e o evento passou a ser gratuito. Fizemos o festival na Rua da Moeda. Nessa época o bairro não tinha nada. Falamos com Roger (de Renor), que já tinha a Soparia no Pina, e ele abriu uma filial na Moeda. Atrás do palco havia uma garagem onde um amigo abriu um comércio de bebidas, que chamou de Bar Stage, porque estava atrás do palco (risos). A partir desse momento a rua virou um point. O que era o Bar Stage virou a Cachaçaria, a casa de Roger virou o Novo Pina e foram abertos novos bares. O público aumentou, o festival foi ocupando a rua até que ela ficou pequena. Fomos para onde estamos hoje no Cais da Alfândega. O festival foi se expandindo e foi incorporando a música brasileira e a nova música latina.
Mas vocês sempre se preocuparam em divulgar bandas pouco conhecidas, não é?
O festival tem essa vocação desde o início. O fato de ser gratuito possibilita que as pessoas ouçam sons novos porque não têm que pagar para ver. Elas não têm que arriscar nada. O fato de ser gratuito também me dá liberdade de não ser preciso colocar bandas superconhecidas para as pessoas comparecerem.
Mas você sempre traz também uma atração conhecida.
Sempre busco uma atração que faça um link com a história da nossa música, até como uma forma de mostrar para as novas gerações que a música brasileira tem uma linha evolutiva. Para se chegar na Céu, em Otto, em Criolo, tem todo um lance histórico, porque essas pessoas também têm como referência os grandes nomes que vieram antes. Muita gente, por exemplo, pensa que a música Vapor Barato é de autoria do Rappa, mas quando assiste a um show de Jards Macalé vai ver que aquele cara compôs essa música com Waly Salomão anos atrás. Também trouxemos Luiz Melodia, João Donato, Tom Zé, Tony Tornado (que foi precursor da soul music brasileira), que são uma referência histórica.
Mas são nomes fora do mainstream...
São nomes que têm uma importância, mas não comercialmente. Quando a gente fala que o Rec-beat é um festival independente isso significa que não tem viés comercial. Ivete Sangalo nunca tocaria no Rec-beat. Queremos ser uma plataforma para que o público tome contato com um artista que dificilmente ele veria se não fosse no festival.
Quais os artistas que eram desconhecidos, tocaram no Rec-beat e hoje conquistaram um público maior?
Nação Zumbi, Lenine, Seu Jorge, Gaby Amarantos, Baiana System. Quando se tem um artista potencialmente talentoso, artisticamente forte, o festival contribui, mas não é determinante para seu sucesso, porque ele vai acontecer de alguma forma, sabe? O festival acaba cumprindo um papel de colocar o artista em contato com o público. Os melhores acabam formando uma plateia e criando um mercado.
E o Cordel do Fogo Encantado?
Eles foram lançados por mim. Vi uma apresentação deles no Janeiro de Grandes Espetáculos. Na época eu tinha uma namorada que fazia teatro e ela havia me ligado dizendo para pegá-la nesse festival. Assisti ao final do espetáculo. Em cena estava aquele sujeito magrinho falando umas poesias, depois tocava umas músicas. Na hora eu pensei: isso dava uma banda pro Rec-beat. Tive um insight: se eles deixassem esse espetáculo mais musical, pontuado com poesia, poderia resultar numa coisa bacana. Fui no camarim, me apresentei a Lirinha e o convidei para fazer uma apresentação no Rec-beat, mas como banda. Na semana seguinte liguei pra ele, mas ainda estava em dúvida. Na terceira ligação ele aceitou. O grupo fez 40 minutos de show no Rec-beat. Ali já gerou uma expectativa em cima dele. Lembro da manchete no Diário de Pernambuco: Arcoverde gera uma banda promissora. A gente trabalhou do primeiro ao último dia de banda. Eles voltaram várias vezes no Rec-beat.
Como tem sido a experiência de trazer músicos latinos?
O Rec-beat foi o primeiro festival a trazer bandas latinas desconhecidas. Algumas delas vieram para o festival no início de carreira e hoje estão estouradas nos seus países. Na Colômbia, a Bomba Estéreo, que tocou no Rec-beat há uns sete anos, hoje é uma das maiores bandas colombianas que circula no circuito internacional. A cantora Ana Tijoux, “estouradaça” no Chile, tocou aqui quando estava começando a carreira. Todo país tem uma Céu, um Emicida, uma Nação Zumbi fazendo coisas boas, mas a gente acha que não existe. Fica ligado naquela música tradicional, mas desconhece que tem uma geração ali fazendo um som contemporâneo. O Rec-beat é uma plataforma para esses novos sons.
Como você garimpa as novidades?
Recebo muitos convites de feiras e festivais de música, onde participo de debates, palestras, rodas de negócios, conheço bandas de outros países e cidades. A música independente circula aí. Quando vou a festivais grandes, vejo o show daquelas bandas que têm o nome bem pequeno nos cartazes, ali que estão as potencialmente boas que devem crescer.
A crise econômica afetou o financiamento do festival?
Como é um festival gratuito dependemos exclusivamente do patrocinador. Houve uma fase em que a Fundação de Cultura queria ter a exclusividade no patrocínio. Mas, com a crise, tivemos uma redução forte da verba e tentamos completar por meio da iniciativa privada. Ofereço a possibilidade de expor as marcas a um público grande. Este é um momento difícil, principalmente no meu caso que não trabalho com o mercado mainstream. Para a próxima edição, temos os recursos do edital do Funcultura que está aprovado, da Fundação de Cultura, além de patrocinadores como o Spotify e a Slap, um selo da Som Livre.
Como você vê a música pernambucana atual?
Ela sempre foi muito rica, diversificada, evidente que não tem aquele boom dos anos 90, o que é natural. O eixo da produção musical se desloca para outra região do País. Depois do mangue beat, houve uma concentração muito legal na música do Pará. O Rec-beat foi pioneiro ao programar, por 14 anos seguidos, artistas paraenses, desde os mais tradicionais até as novas tendências. Hoje há uma coisa muito interessante acontecendo na Bahia: existe a banda Baiana System e o seu vocalista Russo Passapusso que tem um trabalho solo interessante, há ainda as bandas Atoxa, Ifá e O Quadro, além de Larissa Luz, da área do hip hop. A Bahia tem uma música muito rica e tem a proximidade com a gente e estamos sempre atentos. Mas a música pernambucana continua muito forte, muito inventiva e criativa. Hoje há um pessoal fazendo música experimental aqui, como Yuri Bruscky e Telmo Cristóvão. Mas é coisa de nicho. Tem o pessoal do hip hop fazendo coisas muito legais. É uma cena que não aparece, mas tem um grande público seguidor.
Além do Carnaval você faz outros eventos?
Existe a possibilidade de fazer uma edição em Sobral e em Fortaleza (CE) no período pré-Carnaval e, há uns quatro anos, criei o Rec-beat Apresenta, eventos menores, onde apresentamos artistas novos, que achamos que terão futuro.