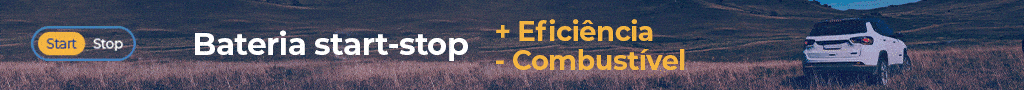O show tem que continuar. O velho lema artístico encaixa-se perfeitamente na trajetória versátil do ator recifense Aramis Trindade (https://youtu.be/2OBRr6tNJBk), que começou a atuar aos 13 anos num circo, em Fazenda Nova, fez 70 filmes e várias peças, desde comédias rasgadas a clássicos, como Molière. Enveredou-se também na produção, atividade que traz no seu DNA a partir da experiência do pai, Boris Trindade, um dos fundadores da Nova Jerusalém. Junto com a mulher, Alessandra Alves, montou a produtora Marina de Ideias, na qual criam soluções para realizar espetáculos cheias de inovação e empreendedorismo. Prova disso, é o esforço que fizeram para viabilizar a peça Romeu e Julieta, com texto de Ariano Suassuna. Transformada em monólogo, com um cenário que cabe numa mala, Aramis levou a história dos Capuleto e Montecchio até para as comunidades. Nesta conversa com Cláudia Santos, ele fala da carreira, das dificuldades do setor cultural e dos planos, como o filme em que interpreta o poeta e engenheiro Joaquim Cardozo.
É verdade que você começou a carreira aos 13 anos num circo?
Em 1978, aos 13 anos, meu pai, recém-falecido, Boris Trindade, era advogado criminalista, por isso ele era diretor jurídico e sócio-fundador da Sociedade Teatral de Fazenda Nova, que é a Nova Jerusalém. Seus sócios eram Lírio Pacheco, Vitor Moreira, Diva Pacheco, entre outros. Papai foi quem me apresentou à obra do cenário nos anos 1970. Sabe aquele cenário que tem a santa ceia? Ali atrás tinha uma escola de circo e comecei a trabalhar nele, no Circo Brasinha. O filho de Plínio, Robson Pacheco, o Robinho, que atualmente é o presidente da Sociedade Teatral Fazenda Nova, era o apresentador e eu era o palhaço Cocorote. Pascoal, outro filho de Lírio, era o palhaço Brasinha, que fazia dupla comigo, e Xuruca, que agora é uma grande figurinista, era bailarina junto com a irmã Nena Pacheco, que hoje cuida da parte mais administrativa do teatro. Também escrevíamos os textos, os esquetes. O clown está muito próximo do público, você tem que ser bom de improviso. De 1977 a 1982 atuei só com palhaçaria. Em 1983 fiz minha primeira peça já no Recife.
Como foi este início do teatro?
Meu pai fundou, fora da Nova Jerusalém, a Aquarius Produções Artísticas. Era uma empresa de teatro convencional, que chamamos de palco italiano. Paulo de Castro era sócio, depois houve uma dissidência entre meu pai e Paulo de Castro – que é um grande produtor – e eu passei a ser sócio. Produzimos uma série de espetáculos a partir de 1978, começando com uma peça de Millôr Fernandes chamada É, até 1988, quando encerramos com uma peça de Molière, O Burguês Fidalgo. Foram 10 anos intensos de muito teatro. Eu atuava, produzia e era assistente de direção. Na Aquarius, assinávamos a carteira dos atores, com 13º, férias. Fazíamos três a quatro espetáculos por ano. Naquela época meu pai tinha um capital de giro, e não recorríamos a nenhum patrocínio. Montávamos tanto comédias rasgadas, como clássicos.
Então essa experiência rica foi a sua escola?
Eu passei na Federal no curso de educação artística, na época não tinha o CFA (curso de formação de ator) que tem agora. Eu seria um professor de arte para criança, mas eu queria um curso de ator. Aí eu ganhei uma bolsa, no Rio de Janeiro, de José Wilker e Luiz Mendonça, que administravam a Escola de Teatro Martins Pena. Mas, quando eu estava para vir, a escola fechou. A partir daí, eu estudei e trabalhei, fui autodidata, lendo e trabalhando. Fiz de tudo, até teatro de revista. Barreto Júnior era o cara da revista do Recife. Tive o prazer de trabalhar com o grande ator Luiz Lima, era o rei da chanchada, fazíamos o quadro Tal qual nada igual, peça que Jomard Muniz de Britto escreveu e Guilherme Coelho, que era o dono do Vivencial Diversiones, um grupo de teatro de Olinda, dirigiu. Guilherme depois foi trabalhar na Aquarius. Mas a minha primeira peça foi Aurora da minha vida, com texto de Naum Alves de Souza, em 1983, no Recife.
Nesta época o público era muito grande?
Nossa, era um público fiel da Aquarius! Havia várias companhias nos anos 80, como a Práxis Dramática, que era do Paulo Góes e José Mário Austregésilo. A gente encenava de terça a domingo. Havia dias com duas sessões, casa cheia. E papai era bom de marketing também. Os anos 80 foram muito prósperos.
Por que houve essa retração?
Tenho a impressão de que esses anos 80 tão prósperos foram decorrentes dessa paixão pelas artes e essa coisa colaborativa também, com pessoas de outras áreas investindo, pensando, empregando. Acredito que partir dos anos 90, quando a gente começou a ter muito mais opção de audiovisual, de DVD, a televisão com uma programação mais extensa, tirou um pouco o público do teatro. E depois da internet, a garotada não quer mais ir ao teatro, quer ver o TikTok.
Como você analisa o momento atual da cultura no País?
Uma vez, perguntaram à grande crítica de teatro, especialista em William Shakespeare, Barbara Heliodora, já falecida, como vai o teatro? Ela disse: “basta a gente ver os nossos dirigentes políticos para você saber como anda o nosso teatro”. Imagina agora? Eu queria replicar, estender essa frase para os tempos atuais. Mas, muitos de nós somos guerreiros e estão pisando no pescoço da gente com força, seja artista, professor, filósofo. Não temos o Ministério da Cultura, veja que coisa séria! A Ancine no freio de mão, uma censura velada, porque há projetos que não andam por causa dos temas que abordam.
O problema é que a gente não tem uma política cultural duradoura. Mas somos guerreiros e guerreiras e criativos, a gente tira o “S” da palavra crise para ela virar crie. Inventa uma solução daqui, outra acolá, rema contra a maré, às vezes dá murro em ponta de faca, mas uma hora vai e a gente respira. Ainda bem que surgem caminhos, às vezes com o apoio de ONGs, instituições internacionais ou, então, rodamos o chapéu.
Tenho com Lelê (Alessandra Alves, mulher de Aramis), a produtora Marina de Ideias Produções. Passamos um bom período, inscrevendo trabalhos em editais das leis de incentivo à cultura, apesar de serem sempre aquelas cartas marcadas. Estamos competindo com 20% da fatia que realmente cabe aos produtores independentes. A peça Romeu e Julieta foi de extrema inovação e empreendedorismo, porque a ideia era captar recursos com a Lei Rouanet, fazer uma temporada no Recife e outra no Rio de Janeiro. Isso não aconteceu. Fomos aprovados na lei, ficamos aptos a captar, conseguimos os bônus para ser deduzidos no IR, mas não temos a ponte para chegar até as empresas. Depende do marketing e o marketing só quer saber de mainstream.
Mas daí pensei: vamos fazer colaborativamente. Liguei para Dantas Suassuna, cenógrafo, pedi para ele fazer um cenário mínimo para a peça. Falamos com a figurista Luciana Buarque, ela disse que bastava um terno cáqui, que poderia ser comprado no brechó e depois bordá-lo. Fizemos a captação direta com empresas com as quais tinha um network no Recife. Conseguimos uma verba pequena. Recebemos apoio da Cepe que nos forneceu 10 mil programas da peça, em forma de cordel, onde no verso colocamos a logomarca das empresas que ajudaram. E com essa pequena verba pude montar figurino, cenário, trilha sonora e botei a peça para moer. Já encenamos há 10 anos. Se eu fosse esperar a Lei Rouanet iria estar parado. Fizemos algumas temporadas com músicos em cena, mas sem patrocínio, não tem como viajar com o pessoal. Aí, inovamos de novo. Gravamos a trilha sonora no pen drive, botamos na mala com a caixinha de som e um tapete e comecei a fazer só, eu mesmo. Depois, teve uma época que não tinha pauta nos teatros, aí começamos a encenar nas escolas, depois fomos para a ação social nas comunidades. Na pandemia, fizemos a apresentação online.
LEIA A ENTREVISTA COMPLETA NA EDIÇÃO 186.4 DA REVISTA ALGOMAIS: assine.algomais.com