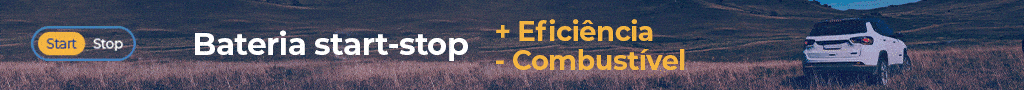Psicanalista, fotógrafa e cineasta, Isabela Cribari conta como conseguiu unir a psicanálise e as artes na sua trajetória profissional, fala do projeto Cinema no Hospital, realizado no Agamenon Magalhães, no Recife, e analisa os danos causados às obras artísticas nos atos de 8 de janeiro.
Ao longo da vida, Isabela Cribari conseguiu unir na sua trajetória profissional duas atividades aparentemente distintas: a produção artística e psicanalítica “Psicanálise, cinema, fotografia, imagem, palavra. Essas coisas não se dissociam mais para mim”, constata a cineasta, fotógrafa e psicanalista pernambucana. Nesta entrevista, ela conta como a conexão dessas atividades propiciou resultados tão interessantes como o documentário De Profundis sobre a população de Itacuruba, no Sertão do Estado, que foi obrigada a se deslocar para um outro local porque a cidade foi submersa por uma barragem. Pressionada a não falar sobre o assunto, boa parte dos moradores foi acometida por depressão e muitos cometeram suicídio.
O projeto Cinema no Hospital também é fruto dessa fusão entre arte e psicanálise. Uma vez por mês, no Agamenon Magalhães, ela organiza a exibição de um filme e um posterior debate, que é aberta ao público e conta com debatedores de diferentes áreas. O projeto faz parte da grade curricular dos residentes de psiquiatria e dos estudantes de psicologia do hospital e tem levado o público – incluindo médicos e pacientes – a refletirem sobre suas vidas. O encontro já contou com a participação de cineastas como Camilo Cavalcante e psicanalistas como Maria Rita Kehl. Além dos projetos, Isabela também fala sobre a importância da arte para a democracia e os reflexos das depredações de obras artísticas durante os atos em 8 de janeiro.
Você poderia falar sobre sua trajetória como cineasta e psicanalista?
Quando me formei em psicologia, em 1990, já tinha interesse na psicanálise e comecei meus estudos na área. Logo depois, fui aprovada em concurso no serviço público estadual onde estou até hoje. No audiovisual comecei como produtora de série de documentários para TV Cultura, Discovery, CNN. Montei minha produtora, a Set Produções.
Entre as séries que fiz estão A Indústria Cultural, com quase 50 episódios sobre várias áreas da indústria cultural. Fiz também Expresso Brasil, em que cada Estado foi abordado por uma personalidade cultural: Pernambuco foi Antônio Carlos Nóbrega; Maranhão, Ferreira Gullar; o Amazonas, por Márcio de Souza; Jorge Furtado, Rio Grande do Sul; além de Roraima de Davi Yanomami. Fiz ainda o Nordeste Feito à Mão, que foram 11 episódios, focando no artesanato da região.
Você sempre conciliou a atividade de psicanalista com o audiovisual?
Não. houve uma época que parei o consultório porque tive que sair daqui para fazer produções muito grandes. Fui para São Paulo, morava no bairro de Perdizes, que era o centro da psicanálise, onde estão editoras só de psicanálise, e a PUC (Pontifícia Universidade Católica). Aproveitei para estudar. Quando volto ao Recife, estava sem pacientes e resolvi fazer o Nordeste Feito à Mão, que demandou muito tempo.
Gosto muito de documentário, tem muito a ver com o trabalho de psicanalista porque temos que lidar com o inesperado. É diferente da ficção, em que você vai para o set com todo o roteiro pronto, o elenco ensaiado, o fotógrafo já sabe onde vai colocar a câmera, o maquinista já sabe todos os movimentos dos equipamentos. Documentário não, é como um consultório, você não sabe o que o paciente vai falar.
Quando fiz o filme De Profundis, juntei tudo: psicanálise, cinema, fotografia, imagem, palavra. Essas coisas não se dissociam mais para mim. Na época, soube, em São Paulo, que havia uma cidade no Sertão de Pernambuco, Itacuruba, com as maiores taxas de suicídio e depressão do País. Eu disse: meu Deus, há quase 30 anos esse pessoal vem sofrendo aqui do nosso lado! Sou da área de saúde mental, trabalho num hospital público, convivo muito com psiquiatra e psicólogos e ninguém sabia disso!
Decidi ir lá saber por que esse povo sofria tanto. Escrevi um roteiro num edital sobre o tema, fui selecionada. Quando começamos a filmar, as pessoas diziam que não havia casos de depressão por lá. Aos poucos fui entrando no cotidiano dos moradores, eles começaram a falar, mas com medo porque a maioria trabalhava na Prefeitura. A Prefeitura colaborou com o filme, mas não tinha interesse de divulgar os casos de depressão. Depois, os que deram entrevistas não quiseram mais falar, nem dar autorização do que haviam dito.
Pensei que o filme havia afundado. Na verdade, a cidade original onde moravam foi submersa para construção de uma barragem, e nunca mais eles falaram sobre isso. Até o padre disse: “o que ficou para trás, ficou. Ninguém fala mais nisso”. O suicídio era um sintoma social de tudo o que não foi dito, não foi elaborado. Foi aí que eu e a montadora fizemos um filme com fotos da cidade antiga. Um carro de som avisou que exibiríamos as imagens. Quando chegamos na praça para mostrar o filme, estava lotada. Embora não pudessem falar, a cidade antiga atingia a emoção deles. Mostramos fotos de Itacuruba Velha e das pessoas naquela época. Aí, elas começaram a falar, falar, falar…
As pessoas toparam falar, mas pediram para não mostrar os rostos apenas as suas vozes. Um pedido que eu acatei e expliquei nos créditos finais do filme. Resolvi fazer uma oficina de cinema para eles entenderem o que a gente estava fazendo ali. Algumas pessoas se interessaram. Uma equipe fazia o trabalho de roteiro, outra de produção, outra de som, outra de fotografia, outra de montagem. As pessoas se juntaram em três grupos, um deles resolveu contar a história da mudança da cidade velha para a nova. Ou seja: tocar naquilo que ninguém falava. Achei fantástico, porque eu ia com eles entrevistar as pessoas nas suas casas. Não era mais o meu filme, era o filme deles. Eles fizeram esse filme com o que tinham: o computador, o celular. Eles foram entendendo o nosso trabalho e as pessoas foram falando.
Quando o documentário passou em São Paulo, no Festival É Tudo Verdade, achava que o debate ia ser muito estranho, por ser algo muito localizado. Mas a discussão entrou numa análise sobre a errância, a migração, a desterritorialização. As pessoas ficaram muito identificadas. São Paulo é muito isso: pessoas que saem dos seus lugares, perdem suas raízes e tentam construir uma vida em outro local. O documentário ganhou muitos prêmios.
E como foi a repercussão na cidade?
Foi completamente diferente de todos os lugares. Pensei que as pessoas estariam muito comovidas, mas elas riam o tempo todo do filme, era tudo que eu não imaginava. Depois, entendi que elas nunca tinham ouvido as suas vozes numa tela. E aí era muito interessante ouvir aquela história que não podia ser contada.
O que é o projeto Cinema no Hospital?
O Cinema no Hospital chega ao seu 12º ano, reconhecido pelo Governo do Estado como um programa de educação continuada em saúde, fazendo parte da grade curricular dos residentes de psiquiatria e dos estudantes de psicologia. Ele acontece no Hospital Agamenon Magalhães, é aberto ao público externo e interno, com excelentes discussões sobre a vida, a partir de um filme. O projeto começou porque sou preceptora da residência de psiquiatria e quando um residente me relatava sobre um paciente que ele atendia, eu me lembrava de um filme e recomendava para ele assistir. As pessoas achavam um pouco estranho, pensavam que eu recomendaria algum artigo.
Na minha formação de psicanalista teve um supervisor que dizia: “não se forma um psicanalista só com psicanálise, você tem que estudar mitologia, filosofia, literatura. Tem que ler”. Para mim faltava uma formação cultural humanística das pessoas que lidam com o sentimento, com a saúde, com as dores humanas. Começamos a passar os filmes para um pequeno grupo, depois chegaram os pacientes, alguns acompanhantes das pessoas internadas, começou a ir um pessoal da clínica médica, uns profissionais da pediatria.
Todos os meses, de março a novembro, chamamos uma pessoa para nos ajudar a discutir, a pensar na vida a partir de um filme. Chamamos colegas produtores, fotógrafos, que entram com outro ponto de vista, o que elimina um pouco as “igrejinhas”, de só se falar para os próprios pares, da psiquiatria falar apenas para a psiquiatria. Conseguia os filmes com amigos produtores e cineastas. Lembro de um filme do Marcelo Gomes, Era Uma Vez Eu, Verônica, que ainda seria lançado e ele e o distribuidor toparam fazer antes uma sessão no hospital. Já participaram vários cineastas, como Camilo Cavalcante, também arquitetos, urbanistas para, a partir de um filme da Renata Pinheiro, pensarmos a nossa relação com a cidade. É um programa muito vivo, sobreviveu à pandemia, pensei que não iria sobreviver, porque passamos a assistir aos filmes em casa. Não ter uma experiência conjunta de assistir aos filmes é completamente diferente.
Leia a entrevista completa na edição 206: assine.algomais.com